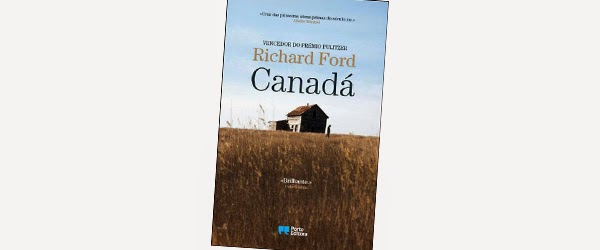A (In)sustentável leveza do ser
A música é, acima de tudo, a arte enquanto uma forma de expressão, que tem na melodia os alicerces comunicativos. Os acordes espelham emoções, a voz, quando existe, invade a imaginação, faz sonhar. A catarse torna-se num fim em si mesmo. Quanto mais se ouve música e se deixa entranhar pela mesma, é natural associar algumas composições a sensações que espelham estados de alma e conferem vários graus de conforto. Da velha Albion surgiram, nas últimas décadas, exemplos de bandas cuja excelência atinge em cheio os recantos mais íntimos da alma.
Ainda que em contextos musicais não necessariamente próximos, bandas como os The Sundays, os Everything But The Girl ou os The XX, por exemplo, editaram álbuns repletos de um conteúdo particular, cujos ingredientes exaltam um espírito bucólico e “romântico”, apenas inerente à ideia britânica. Assim, para a história ficam discos como “Reading, Writing and Arithmetic”, “Worldwide” ou “XX”, que soam a conforto, a lar, a algo nosso. O apelo à intimidade é por demais latente a estes álbuns. A sensação de dias cinzentos, mas não necessariamente tristes, também.
E é essa mesma ideia que nos chegou com “If You Leave”, registo de estreia do trio britânico Daughter, que marcou definitivamente o panorama musical de 2013. Elena Torna (voz e guitarra), Igor Haefeli (guitarra) e Remi Aguilella (bateria) fazem uma música doce, interior, cheia de sentimento. Fazendo uso de um certo espetro “shoegaze”, o já referido “If You Leave” é um hino à melancolia, misturando folk com momentos de um tímido rock de ascendência indie.
Já em 2014, a convite da sua editora, a mítica 4AD, os Daughter estiveram nos londrinos Air Studios e gravaram um EP de cinco músicas, tendo por companhia o compositor Joe Duddle e um conjunto de dez músicos clássicos. Como resultado temos uma mão cheia de revisitações a algumas das mais marcantes composições de “If You Leave”, agora com um inebriante sublinhado sonoro, que torna as referidas canções em peças de uma maior profundidade, onde a elegância é por demais evidente.
“Tomorrow” abre esta maravilhosa experiência auditiva e os seus primeiros instantes ganham uma solenidade assinalável com a presença dos violinos que, gradualmente, acolhem as guitarras de Torna e Haefeli, assim com o canto em forma de quebranto da vocalista. A tranquilidade leva-nos para o fundo de um mar onde música e palavras ecoam num paraíso pessoal e intransmissível. A bateria traz alguma ondulação, o xilofone faz respirar as muitas cordas, a harpa conquista um espaço muito próprio.
A viagem continua com “Still”, um exercício em crescendo, onde a simbiose entre universos é perfeita. A voz, imaculada, sabe ceder o seu espaço à música, agora necessariamente maior, face a um inflacionado grupo de músicos. “Amsterdam” segue os mesmos propósitos e o resultado é uma harmonia plena de energias positivas, com as guitarras a sobressairem dos restantes companheiros de luta sonora. As palavras cantadas por Elena tornam a poesia ainda mais onírica e o discurso tímido com Haefeli lembra momentos de Romy e Oliver, as vozes dos The XX.
Os primeiros momentos de “Youth”, uma das mais marcantes músicas de 2013, são inteiramente de Elena, mas lentamente os restantes músicos fazem a sua aparição, ainda que esta seja a “versão” mais despida de arranjos clássicos. Faz-se o elogio ao amor, à felicidade da partilha de tão nobre sentimento, sente-se o sorriso na voz, a alegria na música.
A derradeira canção deste EP é sinónimo de uma extraordinária versão de “Shallows”, que ao longo de mais de sete minutos deixa alerta os sentidos de uma forma irremediavelmente doce, através de laivos “sónicos” e manobras clássicas enviados diretamente ao nosso coração.
O disco acaba e revela-se curto. O desejo é voltar a este EP, regressar a “If You Leave” e esperar que os Daughter nos surpreendam em breve com mais música. O consolo, enorme devemos dizer, é saber que vamos ter o privilégio de ouvir o trio no Optimus Alive'14, a 12 de julho. Ainda falta muito?
Alinhamento:
01.Tomorrow
02.Still
03.Amsterdam
04.Youth
05.Shallows
Classificação do Palco: 9/10
In Palco Principal
“Don’t think about making art, just get it done. Let everyone else decide if it’s good or bad, whether they love it or hate it. While they are deciding, make even more art.” Andy Warhol
quarta-feira, 25 de junho de 2014
segunda-feira, 23 de junho de 2014
“Biografia Involuntária dos Amantes”
de João Tordo
Miopia existencial
Espanha, Portugal, Canadá, Inglaterra, México. Teresa, Miguel, Antonia, Franquelim, Faustino, Eugene, Benxamín, Jaime. Dor, juventude, traição, tragédia, violência, amor, devoção, (des)culpa, doença, paixão.
Países, nomes, sentimentos e estados de espírito. Eis alguns dos ingredientes que estão na base do mais recente romance de João Tordo, uma das vozes maiores da literatura nacional cujo talento permitiu arrecadar galardões como o prestigiado Prémio Literário José Saramago e que conta no seu já consolidado currículo títulos como “Hotel Memória” e “O Bom Inverno”.
Dono de uma narrativa peculiar, João Tordo consegue com “Biografia Involuntária dos Amantes” (Alfaguara, 2014) extravasar o senso-comum e apresenta uma trama lampejada de laivos de um realismo doloroso, e por vezes dolente e “apático”, que une amizade, paixão, destino e incerteza num universo em que o desconhecido gradualmente envolve quem se cruza no seu caminho levando mesmo à realização de uma demanda pela verdade, ainda que tal conceito surja sob a forma de uma elipse que dispensa o seu verdadeiro significado.
Tudo começa com um inesperado e fortuito encontro entre dois homens envoltos num caos emotivo, onde a perda é assumida como uma herança cavada por vidas sem destino. É a paixão, ou a sua ausência, que vai unir um professor universitário e radialista nas horas vagas a um melancólico poeta mexicano que se deixa arrastar por aquilo que resta da vida, aqui entendida como um somatório doloroso dos segundos.
Se o primeiro, que assume o papel de narrador, surge como um ser sem nome, o outro responde pela graça de Paris, Miguel Saldaña, um espetro melancólico de olhos azuis que foge do passado, presente e futuro e assume-se como uma espécie de fantasma.
Fruto de duas vidas interrompidas, é a amizade que vai unir estas duas almas. No meio de algumas peripécias, surge um documento que vai transformar a vida de ambos. Teresa, ex-mulher de Saldaña Paris, deixou uma espécie de manuscrito em forma de via sacra que pode ser a fronteira entre a sanidade e a loucura.
“Inútil” de apelido forjado pelos labirintos de uma vida peculiar, Teresa relata os seus tempos de menina alfacinha cuja família revelava um pai ausente e alcoólico, uma mãe híper-protetora, um tio inesperado, misterioso e sedutor, um companheiro tímido e com talento para as coisas da escrita.
A menina magrinha que gostava de jogar basquete torna-se numa mulher errante em busca de aventura, de algo que a faça esquecer a monotonia da vida mas, os caminhos escolhidos por vezes tornam-se remoinhos sem nexo nem regresso.
As memórias tornadas vivas nesse documento adensam a depressão de Saldaña Paris e levam o seu amigo professor a encetar uma viagem, também ela espiritual, na tentativa de apurar a verdade. A melhor forma de o fazer é entender a vida dos dois amantes e traçar, com uma poderosa tangente, um relato biográfico involuntário de Teresa e Miguel.
Ao mesmo tempo que se embrenha na demanda, o nosso narrador sente também ele que procura a própria redenção, a sua salvação, algo que possa voltar a transformar a sua vida em algo válido mas para isso vai ter de enfrentar as diversas faces da verdade, os instrumentos contorcidos da bipolaridade humana ao serviço de pessoas disfuncionais e à beira do abismo.
Com “Biografia Involuntária dos Amantes”, uma espécie de roadbook existencial, João Tordo apresenta um exercício literário complexo, intenso e muito inteligente que tem na imaginação a sua melhor ferramenta. Escreve o autor sobre tal: “A imaginação é a chave que temos para manter a morte fechada no seu quarto escuro”. Mas essa morte não é aqui entendida como a antítese da vida mas sim, a desorientação da existência.
Nas páginas deste brilhante romance não se procura a culpa, a acusação. O propósito reside na tentativa de compreensão, de encaixar as desconexas peças de um puzzle que teima em transformar os (simples) atos da vida em matéria de poema pois para uns o amor pode ser a cura, enquanto outros o assumem como uma aguda forma de enfermidade.
In Rua de Baixo
Espanha, Portugal, Canadá, Inglaterra, México. Teresa, Miguel, Antonia, Franquelim, Faustino, Eugene, Benxamín, Jaime. Dor, juventude, traição, tragédia, violência, amor, devoção, (des)culpa, doença, paixão.
Países, nomes, sentimentos e estados de espírito. Eis alguns dos ingredientes que estão na base do mais recente romance de João Tordo, uma das vozes maiores da literatura nacional cujo talento permitiu arrecadar galardões como o prestigiado Prémio Literário José Saramago e que conta no seu já consolidado currículo títulos como “Hotel Memória” e “O Bom Inverno”.
Dono de uma narrativa peculiar, João Tordo consegue com “Biografia Involuntária dos Amantes” (Alfaguara, 2014) extravasar o senso-comum e apresenta uma trama lampejada de laivos de um realismo doloroso, e por vezes dolente e “apático”, que une amizade, paixão, destino e incerteza num universo em que o desconhecido gradualmente envolve quem se cruza no seu caminho levando mesmo à realização de uma demanda pela verdade, ainda que tal conceito surja sob a forma de uma elipse que dispensa o seu verdadeiro significado.
Tudo começa com um inesperado e fortuito encontro entre dois homens envoltos num caos emotivo, onde a perda é assumida como uma herança cavada por vidas sem destino. É a paixão, ou a sua ausência, que vai unir um professor universitário e radialista nas horas vagas a um melancólico poeta mexicano que se deixa arrastar por aquilo que resta da vida, aqui entendida como um somatório doloroso dos segundos.
Se o primeiro, que assume o papel de narrador, surge como um ser sem nome, o outro responde pela graça de Paris, Miguel Saldaña, um espetro melancólico de olhos azuis que foge do passado, presente e futuro e assume-se como uma espécie de fantasma.
Fruto de duas vidas interrompidas, é a amizade que vai unir estas duas almas. No meio de algumas peripécias, surge um documento que vai transformar a vida de ambos. Teresa, ex-mulher de Saldaña Paris, deixou uma espécie de manuscrito em forma de via sacra que pode ser a fronteira entre a sanidade e a loucura.
“Inútil” de apelido forjado pelos labirintos de uma vida peculiar, Teresa relata os seus tempos de menina alfacinha cuja família revelava um pai ausente e alcoólico, uma mãe híper-protetora, um tio inesperado, misterioso e sedutor, um companheiro tímido e com talento para as coisas da escrita.
A menina magrinha que gostava de jogar basquete torna-se numa mulher errante em busca de aventura, de algo que a faça esquecer a monotonia da vida mas, os caminhos escolhidos por vezes tornam-se remoinhos sem nexo nem regresso.
As memórias tornadas vivas nesse documento adensam a depressão de Saldaña Paris e levam o seu amigo professor a encetar uma viagem, também ela espiritual, na tentativa de apurar a verdade. A melhor forma de o fazer é entender a vida dos dois amantes e traçar, com uma poderosa tangente, um relato biográfico involuntário de Teresa e Miguel.
Ao mesmo tempo que se embrenha na demanda, o nosso narrador sente também ele que procura a própria redenção, a sua salvação, algo que possa voltar a transformar a sua vida em algo válido mas para isso vai ter de enfrentar as diversas faces da verdade, os instrumentos contorcidos da bipolaridade humana ao serviço de pessoas disfuncionais e à beira do abismo.
Com “Biografia Involuntária dos Amantes”, uma espécie de roadbook existencial, João Tordo apresenta um exercício literário complexo, intenso e muito inteligente que tem na imaginação a sua melhor ferramenta. Escreve o autor sobre tal: “A imaginação é a chave que temos para manter a morte fechada no seu quarto escuro”. Mas essa morte não é aqui entendida como a antítese da vida mas sim, a desorientação da existência.
Nas páginas deste brilhante romance não se procura a culpa, a acusação. O propósito reside na tentativa de compreensão, de encaixar as desconexas peças de um puzzle que teima em transformar os (simples) atos da vida em matéria de poema pois para uns o amor pode ser a cura, enquanto outros o assumem como uma aguda forma de enfermidade.
In Rua de Baixo
quinta-feira, 19 de junho de 2014
“Calico Joe”
de John Grisham
A vida dentro e fora de um campo de basebol
Um dos mais prolíferos e dedicados autores cuja escrita resvala para enredos onde a justiça e os tribunais são lugares comuns, o norte-americano John Grisham tem o condão de extravasar o referido território narrativo e, por vezes, dedica-se a contar estórias simples onde a humanidade é a sua maior influência.
Com “Calico Joe” (Bertrand Editora, 2014), Grisham conta uma comovente aventura que tem como maiores ingredientes a gloria e a desilusão que muitas vezes estão associadas aos eventos desportivos, algo que também é comum ao basebol, um dos desportos mais acarinhados nos Estados Unidos da América.
Estamos perante um livro de grande abrangência no que ao público-alvo diz respeito e podemos dizer que está na fronteira entre um romance adulto e um generoso conto juvenil, ainda que a temática que explora seja a proximidade da perda de um ente próximo mas não querido devido a um passado de abusos diversos onde uma das partes é, objetivamente, subjugada e humilhada.
Apesar do todo o dramatismo narrativo, a escrita elegante do autor de livros como “A Confissão” ou o clássico “A Firma” ultrapassa com distinção essa barreira e oferece ao leitor uma espécie de humilde lição através de uma estória que traz à tona sentimentos como o remorso e uma ténue esperança pela redenção.
Um livro para todos, “Calico Joe”, faz-nos entrar no universo complexo do basebol e, em menos de duzentas páginas, ficamos a conhecer os contornos de vidas que divergem por questões que ultrapassavam a racionalidade. Grisham começa a narrativa de uma forma direta e muito acessível (temos mesmo direito a explicações sobre as regras do jogo com algumas palavras-chave devidamente identificadas com um alusivo bold), em forma de conto de fadas, onde os personagens se movem como marionetas.
Enquanto a estória cresce, pelas páginas de “Calico Joe” são encontrados fantasmas de sentimentos vários. As emoções explodem, variam. A excitação dá lugar à compaixão, o desapontamento abraça a tragédia enquanto a compreensão e o perdão são objetivos maiores. Ao leitor fica a nobre tarefa de deixar arrebatar-se por um labirinto emocional erigido à conta de uma graciosidade em forma de escrita.
Mas vamos à narrativa. Estamos em 1973, os Cardinals defrontam os Cubs. Fate consegue arrastar Joe Castle para um excitante jogo de basebol. Castle tem uma das oportunidades da sua vida pois dois jogadores dos Cubs estão lesionados. Extremamente talentoso, Joe não desperdiça a chance e gradualmente torna-se num dos maiores heróis da América desportiva ao bater recordes atrás de recordes.
Paul Tracey, filho de Warren Tracey, um jogador dos Mets de fraca craveira, tem como maior ídolo Joe. O seu pai, invejoso, não tolera tal veneração e envolto de um espírito agressivo, numa jogada pouco casual, provoca uma lesão a Joe que vê a sua carreira terminar de forma abrupta.
Durante cerca de três décadas, Paul revive a fatídica jogada vezes sem conta e está cada vez mais consciente da intenção do seu pai em magoar o seu ídolo. Envolto de um espírito de missão, Paul quer corrigir o erro do seu progenitor, um homem que não conhece o conceito de remorso e olha para a referida lesão como um “ossos do ofício”.
Quando Paul sabe que Warren enfrenta uma doença terminal, propõe ao seu pai que faça as pazes com Joe antes da sua morte. Conseguirá um filho rejeitado durante uma vida inteira transformar um coração empedernido de um homem amargo numa pessoa que aceita reconhecer um erro? Poderá a proximidade da morte conferir uma paz interior que permita a redenção? Essa é a resposta que Grisham procura em “Calico Joe”, uma obra sobre o basebol, sobre a vida, sobre o ato de idolatrar, sobre a devoção incondicional.
In Rua de Baixo
Um dos mais prolíferos e dedicados autores cuja escrita resvala para enredos onde a justiça e os tribunais são lugares comuns, o norte-americano John Grisham tem o condão de extravasar o referido território narrativo e, por vezes, dedica-se a contar estórias simples onde a humanidade é a sua maior influência.
Com “Calico Joe” (Bertrand Editora, 2014), Grisham conta uma comovente aventura que tem como maiores ingredientes a gloria e a desilusão que muitas vezes estão associadas aos eventos desportivos, algo que também é comum ao basebol, um dos desportos mais acarinhados nos Estados Unidos da América.
Estamos perante um livro de grande abrangência no que ao público-alvo diz respeito e podemos dizer que está na fronteira entre um romance adulto e um generoso conto juvenil, ainda que a temática que explora seja a proximidade da perda de um ente próximo mas não querido devido a um passado de abusos diversos onde uma das partes é, objetivamente, subjugada e humilhada.
Apesar do todo o dramatismo narrativo, a escrita elegante do autor de livros como “A Confissão” ou o clássico “A Firma” ultrapassa com distinção essa barreira e oferece ao leitor uma espécie de humilde lição através de uma estória que traz à tona sentimentos como o remorso e uma ténue esperança pela redenção.
Um livro para todos, “Calico Joe”, faz-nos entrar no universo complexo do basebol e, em menos de duzentas páginas, ficamos a conhecer os contornos de vidas que divergem por questões que ultrapassavam a racionalidade. Grisham começa a narrativa de uma forma direta e muito acessível (temos mesmo direito a explicações sobre as regras do jogo com algumas palavras-chave devidamente identificadas com um alusivo bold), em forma de conto de fadas, onde os personagens se movem como marionetas.
Enquanto a estória cresce, pelas páginas de “Calico Joe” são encontrados fantasmas de sentimentos vários. As emoções explodem, variam. A excitação dá lugar à compaixão, o desapontamento abraça a tragédia enquanto a compreensão e o perdão são objetivos maiores. Ao leitor fica a nobre tarefa de deixar arrebatar-se por um labirinto emocional erigido à conta de uma graciosidade em forma de escrita.
Mas vamos à narrativa. Estamos em 1973, os Cardinals defrontam os Cubs. Fate consegue arrastar Joe Castle para um excitante jogo de basebol. Castle tem uma das oportunidades da sua vida pois dois jogadores dos Cubs estão lesionados. Extremamente talentoso, Joe não desperdiça a chance e gradualmente torna-se num dos maiores heróis da América desportiva ao bater recordes atrás de recordes.
Paul Tracey, filho de Warren Tracey, um jogador dos Mets de fraca craveira, tem como maior ídolo Joe. O seu pai, invejoso, não tolera tal veneração e envolto de um espírito agressivo, numa jogada pouco casual, provoca uma lesão a Joe que vê a sua carreira terminar de forma abrupta.
Durante cerca de três décadas, Paul revive a fatídica jogada vezes sem conta e está cada vez mais consciente da intenção do seu pai em magoar o seu ídolo. Envolto de um espírito de missão, Paul quer corrigir o erro do seu progenitor, um homem que não conhece o conceito de remorso e olha para a referida lesão como um “ossos do ofício”.
Quando Paul sabe que Warren enfrenta uma doença terminal, propõe ao seu pai que faça as pazes com Joe antes da sua morte. Conseguirá um filho rejeitado durante uma vida inteira transformar um coração empedernido de um homem amargo numa pessoa que aceita reconhecer um erro? Poderá a proximidade da morte conferir uma paz interior que permita a redenção? Essa é a resposta que Grisham procura em “Calico Joe”, uma obra sobre o basebol, sobre a vida, sobre o ato de idolatrar, sobre a devoção incondicional.
In Rua de Baixo
quarta-feira, 18 de junho de 2014
Mão Morta – “Pelo Meu Relógio são Horas de Matar”
Teoria do Caos
1984. Joaquim Pinto está em Berlim e assiste a um concerto dos Swans. Na ressaca do evento, Harry Crosby, dono do baixo da banda norte-americana, diz ao português que tem cara de baixista. Pinto segue as indicações do músico e compra um baixo. Pouco depois, na companhia de Miguel Pedro e Adolfo Luxúria Canibal, funda uma banda.
1988. Essa banda lança o primeiro disco. Um EP de seis músicas. Entre elas figuravam “E Se Depois”, “Oub’lá” ou “Aum”. O rock visceral combinava com uma acutilante poesia, onde a urgência urbana se miscigenava com um ambiente negro. Viviam-se os últimos anos da década de 1980 e na católica Bracara Augusta despontava um interessante movimento musical, “seduzido por um redopio embriagado de vertigem”. Mas, ao contrário da letra de “Até Cair”, essa banda logrou vencer a passagem do calendário, com maiores ou menores acidentes de percurso.
2014. Quatro anos depois de um menos inspirado e algo kitch “Pesadelo em Peluche”, eis que essa banda, hoje sexteto, faz chegar aos escaparates “Pelo Meu Relógio são Horas de Matar”, um disco cuja filiação se centra na crise económica, social e de valores que vigora num país que faz parte de uma Europa à beira do colapso. Essa banda são os Mão Morta, um coletivo que sempre pautou pela diferença e que tem como figura de proa Adolfo Luxúria Canibal, um Homem das letras e das leis, um poeta urbano que busca inspiração nos movimentos situacionistas e surrealistas e tem como maior arma de “combate” a metáfora, figura de estilo que neste álbum assume características ímpares, onde a violência e a rebeldia se contrapõem face a uma certa apatia e inércia social da pessoa enquanto membro de uma sociedade entregue a uma geração de políticos sem carisma e dependentes da ajudas em triplicado.
Musicalmente, este disco surge como um corte face ao já referido “Pesadelo em Peluche” e faz recuar até aos tempos de “O.D., Rainha do Rock & Craw”, nomeadamente aos ecos de composições como “Anarquista Duval”, “Charles Manson” ou “O Divino Marquês”, ainda que essa comparação esteja mais associada ao ambiente conceptual do que sonoro, com exceção de “Nuvens Bárbaras” ou “Hipótese de Suicídio”.
Em “Pelo Meu Relógio são Horas de Matar” fala-se da perda da individualidade, de desesperança, de medo do futuro e de algum retrocesso político e social, sendo a minimal “Os Ossos de Marcelo Caetano” um bom exemplo dessa realidade. Foi mesmo essa a música escolhida pela banda para figurar no vídeo de promoção do disco. A alusão à violência e à revolta tornou essa peça num manifesto que fala de gente que não gosta de si, que tem medo de amar.
As guitarras dançam com o baixo, o piano torna o ambiente mais denso, a voz, cavernosa, confere dramatismo, os coros lembram fantasmas. Logo na primeira faixa do disco, “Irmão da Solidão”, somos envolvidos por uma narrativa poética cujo sublinhado sónico da guitarra tem na bateria dolente um precioso aliado. Os coros adensam uma tensão que não procura a explosão, mas sim a dormência, a letargia.
Adolfo Luxúria Canibal diz que o corpo precisa de “divertimento sensorial” mas alerta para a perda do sentido crítico do ser social. A opinião dá lugar à tese do suicídio metafórico como libertação e “Hipótese do Suicídio” é sinónimo de rock puro e duro, onde a guitarra fura o arrastar sufocante do baixo opressivo.
Num ápice, aos primeiros acordes de “Nuvens Bárbaras”, sentimos a vertigem fantasmagórica dos tempos de “Muller no Hotel Hessischer Hof” e entramos numa tour de force de oito minutos de beleza pura, onde ruído e silêncio partilham um espaço comum, onde laivos elétricos convivem com a pureza clássica de um piano. Canibal declama. A esperança é fruto do passado mas a música vence os nossos ouvidos, que abraçam esta sonoridade arrastada, condenada, fruto de um veneno viciante que se entranha mesmo antes de se estranhar. Um dos melhores momentos do disco.
Como se de um livro se tratasse, os Mão Morta erguem personagens entregues a si mesmas numa negra elipse metafórica. O drama surge nas linhas e entrelinhas cantadas e tocadas. “Pássaros a Esvoaçar” traz à tona o drama do desemprego, de noites que são dias. O ambiente é sussurrante, pesado. A guitarra seduz pela hipnose, bateria e baixo sustentam esse clima. Os Mão Morta estão em grande forma e os nossos ouvidos exultam de felicidade.
“Preces Perdidas” e “De Coração Acesso” são duas faces de uma mesma moeda. Se no primeiro momento sobressai um perfil sintético, depois a orgânica pesada do rock vence por knock-out. A seguir, “Mulher Clitóris Morango” faz um apelo, sem medo, à sublevação popular, à luta, com Adolfo Luxúria Canibal a associar essa causa a um sentimento forte, como é o desejo carnal aqui entendido também como uma catarse simbólica.
“Os Ossos de Marcelo Caetano”, single que serve de promoção ao disco, assenta no espetro minimal de uma única frase repetida até à exaustão. Adolfo avisa que os restos mortais do antigo dirigente regressaram a S. Bento, a política está em retrocesso. A tese é fundamentada com uma mescla musical que funde momentos litúrgicos de um órgão aliado a uma voz que rapidamente cede o seu lirismo a um maquinal diálogo entre máquinas e elementos elétricos.
Com um clima mais pop, “Histórias da Cidade” é uma das composições mais melódicas de “Pelo Meu Relógio são Horas de Matar”, onde o baixo e a bateria pautam o ritmo que não se esquece da familiar guitarra. No ocaso do álbum está “Horas de Matar”, um exercício mais pesado, dolente e arrastado, que mostra uma solidariedade musical e poética.
A música acaba, mas o disco não termina aqui. A vontade de voltar a carregar no play, de voltar ao início, ao meio, aonde quisermos, subsiste. Já o dissemos: os Mão Morta estão em grande forma e a sua música ganha solidez com a agressividade latente, seja ela metafórica ou não. Num cenário de crise emergem, por vezes, faróis de (des)esperança. Este disco é um deles. Deixemos que a sua luz, por vezes negra, muito negra, nos ilumine a alma. Sintamos os ventos animais.
Alinhamento:
01.Irmã da Solidão
02.Hipótese de Suicídio
03.Nuvens Bárbaras
04.Pássaros a Esvoaçar
05.Preces Perdidas
06.De Coração Acesso
07.Mulher Clitóris Morango
08.Os Ossos de Marcelo Caetano
09.Histórias da Cidade
10.Horas de Matar
Classificação do Palco: 9/10
In Palco Principal
1984. Joaquim Pinto está em Berlim e assiste a um concerto dos Swans. Na ressaca do evento, Harry Crosby, dono do baixo da banda norte-americana, diz ao português que tem cara de baixista. Pinto segue as indicações do músico e compra um baixo. Pouco depois, na companhia de Miguel Pedro e Adolfo Luxúria Canibal, funda uma banda.
1988. Essa banda lança o primeiro disco. Um EP de seis músicas. Entre elas figuravam “E Se Depois”, “Oub’lá” ou “Aum”. O rock visceral combinava com uma acutilante poesia, onde a urgência urbana se miscigenava com um ambiente negro. Viviam-se os últimos anos da década de 1980 e na católica Bracara Augusta despontava um interessante movimento musical, “seduzido por um redopio embriagado de vertigem”. Mas, ao contrário da letra de “Até Cair”, essa banda logrou vencer a passagem do calendário, com maiores ou menores acidentes de percurso.
2014. Quatro anos depois de um menos inspirado e algo kitch “Pesadelo em Peluche”, eis que essa banda, hoje sexteto, faz chegar aos escaparates “Pelo Meu Relógio são Horas de Matar”, um disco cuja filiação se centra na crise económica, social e de valores que vigora num país que faz parte de uma Europa à beira do colapso. Essa banda são os Mão Morta, um coletivo que sempre pautou pela diferença e que tem como figura de proa Adolfo Luxúria Canibal, um Homem das letras e das leis, um poeta urbano que busca inspiração nos movimentos situacionistas e surrealistas e tem como maior arma de “combate” a metáfora, figura de estilo que neste álbum assume características ímpares, onde a violência e a rebeldia se contrapõem face a uma certa apatia e inércia social da pessoa enquanto membro de uma sociedade entregue a uma geração de políticos sem carisma e dependentes da ajudas em triplicado.
Musicalmente, este disco surge como um corte face ao já referido “Pesadelo em Peluche” e faz recuar até aos tempos de “O.D., Rainha do Rock & Craw”, nomeadamente aos ecos de composições como “Anarquista Duval”, “Charles Manson” ou “O Divino Marquês”, ainda que essa comparação esteja mais associada ao ambiente conceptual do que sonoro, com exceção de “Nuvens Bárbaras” ou “Hipótese de Suicídio”.
Em “Pelo Meu Relógio são Horas de Matar” fala-se da perda da individualidade, de desesperança, de medo do futuro e de algum retrocesso político e social, sendo a minimal “Os Ossos de Marcelo Caetano” um bom exemplo dessa realidade. Foi mesmo essa a música escolhida pela banda para figurar no vídeo de promoção do disco. A alusão à violência e à revolta tornou essa peça num manifesto que fala de gente que não gosta de si, que tem medo de amar.
As guitarras dançam com o baixo, o piano torna o ambiente mais denso, a voz, cavernosa, confere dramatismo, os coros lembram fantasmas. Logo na primeira faixa do disco, “Irmão da Solidão”, somos envolvidos por uma narrativa poética cujo sublinhado sónico da guitarra tem na bateria dolente um precioso aliado. Os coros adensam uma tensão que não procura a explosão, mas sim a dormência, a letargia.
Adolfo Luxúria Canibal diz que o corpo precisa de “divertimento sensorial” mas alerta para a perda do sentido crítico do ser social. A opinião dá lugar à tese do suicídio metafórico como libertação e “Hipótese do Suicídio” é sinónimo de rock puro e duro, onde a guitarra fura o arrastar sufocante do baixo opressivo.
Num ápice, aos primeiros acordes de “Nuvens Bárbaras”, sentimos a vertigem fantasmagórica dos tempos de “Muller no Hotel Hessischer Hof” e entramos numa tour de force de oito minutos de beleza pura, onde ruído e silêncio partilham um espaço comum, onde laivos elétricos convivem com a pureza clássica de um piano. Canibal declama. A esperança é fruto do passado mas a música vence os nossos ouvidos, que abraçam esta sonoridade arrastada, condenada, fruto de um veneno viciante que se entranha mesmo antes de se estranhar. Um dos melhores momentos do disco.
Como se de um livro se tratasse, os Mão Morta erguem personagens entregues a si mesmas numa negra elipse metafórica. O drama surge nas linhas e entrelinhas cantadas e tocadas. “Pássaros a Esvoaçar” traz à tona o drama do desemprego, de noites que são dias. O ambiente é sussurrante, pesado. A guitarra seduz pela hipnose, bateria e baixo sustentam esse clima. Os Mão Morta estão em grande forma e os nossos ouvidos exultam de felicidade.
“Preces Perdidas” e “De Coração Acesso” são duas faces de uma mesma moeda. Se no primeiro momento sobressai um perfil sintético, depois a orgânica pesada do rock vence por knock-out. A seguir, “Mulher Clitóris Morango” faz um apelo, sem medo, à sublevação popular, à luta, com Adolfo Luxúria Canibal a associar essa causa a um sentimento forte, como é o desejo carnal aqui entendido também como uma catarse simbólica.
“Os Ossos de Marcelo Caetano”, single que serve de promoção ao disco, assenta no espetro minimal de uma única frase repetida até à exaustão. Adolfo avisa que os restos mortais do antigo dirigente regressaram a S. Bento, a política está em retrocesso. A tese é fundamentada com uma mescla musical que funde momentos litúrgicos de um órgão aliado a uma voz que rapidamente cede o seu lirismo a um maquinal diálogo entre máquinas e elementos elétricos.
Com um clima mais pop, “Histórias da Cidade” é uma das composições mais melódicas de “Pelo Meu Relógio são Horas de Matar”, onde o baixo e a bateria pautam o ritmo que não se esquece da familiar guitarra. No ocaso do álbum está “Horas de Matar”, um exercício mais pesado, dolente e arrastado, que mostra uma solidariedade musical e poética.
A música acaba, mas o disco não termina aqui. A vontade de voltar a carregar no play, de voltar ao início, ao meio, aonde quisermos, subsiste. Já o dissemos: os Mão Morta estão em grande forma e a sua música ganha solidez com a agressividade latente, seja ela metafórica ou não. Num cenário de crise emergem, por vezes, faróis de (des)esperança. Este disco é um deles. Deixemos que a sua luz, por vezes negra, muito negra, nos ilumine a alma. Sintamos os ventos animais.
Alinhamento:
01.Irmã da Solidão
02.Hipótese de Suicídio
03.Nuvens Bárbaras
04.Pássaros a Esvoaçar
05.Preces Perdidas
06.De Coração Acesso
07.Mulher Clitóris Morango
08.Os Ossos de Marcelo Caetano
09.Histórias da Cidade
10.Horas de Matar
Classificação do Palco: 9/10
In Palco Principal
quarta-feira, 11 de junho de 2014
“God of War Collection”
PS Vita
Revisitação espartana
No mundo das consolas existem duas eras: a. GOW e d. GOW. Corria o mês três de 2005 quando a primeira aventura do impiedoso guerreiro espartano Kratos chegou ao universo da PS2. De perfil angustiante e aura invencível, este fiel servo dos deuses do Olimpo personificava aquilo que os amantes de jogos de ação na terceira pessoa esperavam.
Inspirados na dinâmica e ideologia de jogos como o seminal “Prince of Persia”, os técnicos dos Estúdios de Santa Mónica mudaram as nossas vidas para sempre através de um jogo que mistura muita aventura, mitologia, ação e um espírito de perceção pragmática explorada através dos magníficos puzzles que Kratos tem de enfrentar durante a sua demanda.
Dois anos volvidos, também em março (todos os jogos da coleção têm este mês como data privilegiada de lançamento), surgia “God of War II”. Se o primeiro jogo da saga encantou, este segundo tomo é, sem qualquer dúvida, um dos melhores jogos de sempre para qualquer plataforma.
Sim, é difícil esconder a emoção quando de fala da saga GOW, mas a sua qualidade e emotividade inerente dificilmente encontrou, até hoje, paralelo. Fruto desses predicados, em 2009 a Sony decidiu lançar estes dois jogos na PlayStation 3 num único disco e em formado HD (posteriormente lançados juntamente com o terceiro tomo da saga) e hoje, nove anos depois do seu lançamento, chega a vez da PS Vita.
Mas será que quase uma década depois um clássico como GOW ainda é pertinente? Atentemos então perfil do ambiente deste jogo. É um dos mais emblemáticos exemplos de combate multifunções onde a noção “hack-and-slash” é competentíssima, os puzzles roçam a perfeição, apresenta uma competente dinâmica de plataformas e o argumento está acima de qualquer suspeita. A todo isto junta-se uma espetacularidade ímpar que é capaz de deixar a testa suada a qualquer jogador que tente desesperadamente ganhar um combate em confronto com um boss.
O ambiente criado em volta de Kratos é de grande beleza e a (magnifica) banda sonora torna a ação ainda mais épica. Em terra, no ar ou debaixo de água, o “nosso” raivoso espartano serve-se de combos mortais e de um leque de armas que vai juntando à medida que evoluiu na aventura. Aqui e ali há ainda lugar para momentos de alguma luxúria…
Defeitos? Poucos ou nenhuns. Virtudes? Infinitas. E é com essa noção que sentimos “God of War Collection” na PS Vita. Ainda que não seja novidade fazer de Kratos numa plataforma portátil (saíram já dois títulos para a PSP. A saber: “Chains of Olympus” e “Ghost of Sparta”) é sempre uma delícia ter essa possibilidade.
As novidades, tal como se esperava, não são muitas mais ainda assim supera as expectativas comparativamente como o que aconteceu com, por exemplo, “The Sly Collection”. As potencialidades da Vita fazem com que se utilize o painel traseiro para abrir arcas e portas mas, por vezes, a tarefa é traída pela excessiva sensibilidade da função, algo que também acontece quando se tenta gravar a caminhada de Kratos. No que toca a outros comandos, em substituição dos “L3” e “R3” temos o já referido painel touch-screen, também em termos frontais, que dá uma ajuda na ativação dos poderes como The Rage of Gods ou Rage of the Titans, bem como noutras ações secundárias.
Mas talvez o maior pecado desta versão Vita é uma aparente falta de cuidado com a remasterização total. Ainda que graficamente o jogo esteja mais atrativo que na versão original criada para a PS2, as “cutscenes” parecem vídeos de qualidade duvidável retirados do youtube. Senhores da Sony, este clássico merecia mais atenção neste ponto.
A displicência vai ao ponto do ecrã diminuir o seu raio de ação aquando dos referidos momentos vídeo. Não deixa de ser muito incoerente quando tal acontece numa edição supostamente melhorada em termos de grafismo e apresentação.
Felizmente que tal não afeta em nada a jogabilidade dos dois jogos e para quem nunca teve oportunidade de sentir a emoção da saga parece o momento indicado para ser atingido pela epifania chamada “God of War”.
Preparem-se horas de sofreguidão aguda de consola na mão, seja pela primeira vez ou em modo nostalgia. Aproveitemos os troféus conseguidos e demos o melhor uso às lâminas do caos. Os deuses não perdem pela demora…
In Rua de Baixo
No mundo das consolas existem duas eras: a. GOW e d. GOW. Corria o mês três de 2005 quando a primeira aventura do impiedoso guerreiro espartano Kratos chegou ao universo da PS2. De perfil angustiante e aura invencível, este fiel servo dos deuses do Olimpo personificava aquilo que os amantes de jogos de ação na terceira pessoa esperavam.
Inspirados na dinâmica e ideologia de jogos como o seminal “Prince of Persia”, os técnicos dos Estúdios de Santa Mónica mudaram as nossas vidas para sempre através de um jogo que mistura muita aventura, mitologia, ação e um espírito de perceção pragmática explorada através dos magníficos puzzles que Kratos tem de enfrentar durante a sua demanda.
Dois anos volvidos, também em março (todos os jogos da coleção têm este mês como data privilegiada de lançamento), surgia “God of War II”. Se o primeiro jogo da saga encantou, este segundo tomo é, sem qualquer dúvida, um dos melhores jogos de sempre para qualquer plataforma.
Sim, é difícil esconder a emoção quando de fala da saga GOW, mas a sua qualidade e emotividade inerente dificilmente encontrou, até hoje, paralelo. Fruto desses predicados, em 2009 a Sony decidiu lançar estes dois jogos na PlayStation 3 num único disco e em formado HD (posteriormente lançados juntamente com o terceiro tomo da saga) e hoje, nove anos depois do seu lançamento, chega a vez da PS Vita.
Mas será que quase uma década depois um clássico como GOW ainda é pertinente? Atentemos então perfil do ambiente deste jogo. É um dos mais emblemáticos exemplos de combate multifunções onde a noção “hack-and-slash” é competentíssima, os puzzles roçam a perfeição, apresenta uma competente dinâmica de plataformas e o argumento está acima de qualquer suspeita. A todo isto junta-se uma espetacularidade ímpar que é capaz de deixar a testa suada a qualquer jogador que tente desesperadamente ganhar um combate em confronto com um boss.
O ambiente criado em volta de Kratos é de grande beleza e a (magnifica) banda sonora torna a ação ainda mais épica. Em terra, no ar ou debaixo de água, o “nosso” raivoso espartano serve-se de combos mortais e de um leque de armas que vai juntando à medida que evoluiu na aventura. Aqui e ali há ainda lugar para momentos de alguma luxúria…
Defeitos? Poucos ou nenhuns. Virtudes? Infinitas. E é com essa noção que sentimos “God of War Collection” na PS Vita. Ainda que não seja novidade fazer de Kratos numa plataforma portátil (saíram já dois títulos para a PSP. A saber: “Chains of Olympus” e “Ghost of Sparta”) é sempre uma delícia ter essa possibilidade.
As novidades, tal como se esperava, não são muitas mais ainda assim supera as expectativas comparativamente como o que aconteceu com, por exemplo, “The Sly Collection”. As potencialidades da Vita fazem com que se utilize o painel traseiro para abrir arcas e portas mas, por vezes, a tarefa é traída pela excessiva sensibilidade da função, algo que também acontece quando se tenta gravar a caminhada de Kratos. No que toca a outros comandos, em substituição dos “L3” e “R3” temos o já referido painel touch-screen, também em termos frontais, que dá uma ajuda na ativação dos poderes como The Rage of Gods ou Rage of the Titans, bem como noutras ações secundárias.
Mas talvez o maior pecado desta versão Vita é uma aparente falta de cuidado com a remasterização total. Ainda que graficamente o jogo esteja mais atrativo que na versão original criada para a PS2, as “cutscenes” parecem vídeos de qualidade duvidável retirados do youtube. Senhores da Sony, este clássico merecia mais atenção neste ponto.
A displicência vai ao ponto do ecrã diminuir o seu raio de ação aquando dos referidos momentos vídeo. Não deixa de ser muito incoerente quando tal acontece numa edição supostamente melhorada em termos de grafismo e apresentação.
Felizmente que tal não afeta em nada a jogabilidade dos dois jogos e para quem nunca teve oportunidade de sentir a emoção da saga parece o momento indicado para ser atingido pela epifania chamada “God of War”.
Preparem-se horas de sofreguidão aguda de consola na mão, seja pela primeira vez ou em modo nostalgia. Aproveitemos os troféus conseguidos e demos o melhor uso às lâminas do caos. Os deuses não perdem pela demora…
In Rua de Baixo
quinta-feira, 5 de junho de 2014
“Canadá”
de Richard Ford
O Livro do Mundo
Corriam os agitados anos 1980 quando “Canadá” (Porto Editora, 2014), o mais recente livro de Richard Ford, terá – ainda que de forma inconsciente ,tido a sua génese. A convite de Dave Carpenter, romancista e ensaísta canadiano, Ford e o também escritor Raymond Carver aceitaram participar numa caça ao ganso nas margem sul do rio Saskatchewan, no Canadá.
Conhecedor das artes da caça através do legado herdado de um pai e avô caçadores, Ford aceitou de bom grado a demanda e, dessa aventura, nasceu um desafio entre o autor de “O Jornalista Desportivo” e Carver: fazer um romance sobre o episódio vivido no Canadá, de criação livre. Infelizmente Raymond Carver morreria pouco tempo depois, mas Ford não esqueceu a promessa e, duas décadas depois, “Canadá” é uma maravilhosa realidade.
Depois de editar “A Pele da Terra”, tomo terceiro do trilogia que tinha como principal personagem Frank Bascome, “Canadá” traz de regresso, seis anos depois, a escrita genial de um autor que já viu a sua obra ser reconhecida através dos prestigiados prémios Pulitzer e Pen/Faulkner.
Obra ficcional divida em três partes, “Canadá” centra-se na figura de Dell Parsons, um rapaz de quinze que vive um período de abandono familiar depois dos pais terem sido acusados de assaltar um banco (e posteriormente presos). Dell é um personagem edificado com mestria, através de uma linguagem desarmante que torna a escrita de Richard Ford num acontecimento sem paralelo.
À semelhança do que fez no romance “Wildlife”, “Canadá” traz de novo a palco a pequena cidade Great Falls, no estado de Montana. Vivem-se os finais da década de 1950 e os ecos da Segunda Guerra estão ainda muito vivos. Ainda que esta obra seja entendida do ponto de vista presente, Richard Ford dá a Dell Parsons a possibilidade de viver um discurso na primeira pessoa, fazendo um interessante regresso ao passado de modo a conseguir entender a sua posição no mundo, afastando – ou pelo menos realizando essa tentativa – fantasmas de tempos idos.
Mas tudo em “Canadá” é complexo e está inserido num universo contextual particular. Com um argumento cru, Ford relata a história de vida de Dell Parsons, filho de Bev Parsons, ex-militar e tripulante de um B-52 responsável pelos bombardeamentos aquando da Segunda Guerra Mundial, e Neeva Kamper, professora de profissão.
Deste improvável casal nasceram Dell e Berner, gémeos falsos que partilham as bruscas mudanças de quotidiano promovidas pelo espírito nómada dos seus progenitores. Bev, otimista e extrovertido por natureza, arrasta a sua família de base em base militar em busca de um local “perfeito”.
Dell e Berner sentem dificuldades de habituação e integração nas comunidades que vão conhecendo. Rapaz e rapariga fecham-se sobre si mesmos, ainda que Berner consiga libertar-se de amarras e tente socializar. Já Dell refugia-se entre duas paixões: as abelhas e o xadrez.
À medida que as páginas avançam, é cada vez mais notório que este romance assenta o seu perfil num equilíbrio entre o enredo e a própria linguagem da escrita de Ford, sendo que qualquer um destes elementos não se sobrepõe, convivendo antes de forma deliciosamente harmoniosa.
Enquanto a vida vai agudizando as dificuldades da família, Bev decide optar por um caminho que vai mudar a vida de todos. Na companhia de Neeva decide assaltar um banco no Norte do Dakota. Sem experiência e movido por uma sensação de desespero, o casal acaba por ser detido e entrega os filhos à sorte do destino. Berner opta pela fuga, Dell é salvo por uma amiga da mãe que o leva para o desconhecido Canadá.
As pradarias de Saskatchewan, não referidas no “World Book” de Dell, surgem como uma segunda oportunidade para o adolescente que é acolhido por Arthur Remlinger, um norte-americano radicado no Canadá cuja personalidade é um misto de carisma e vazio. Dell está, agora, entregue à sua sorte, mas tudo à sua volta é um cenário escuro. Ainda que a vida seja entregue vazia e seja nossa a responsabilidade de a encher, estará Dell preparado para tal tarefa?
Ao longo deste livro, sem dúvida uma das obras mais consistentes deste ano, é o poder da linguagem de Richard Ford que hipnotiza o leitor. A estória é de uma autenticidade assinalável e os personagens espelham alguns dos maiores defeitos e virtudes do ser humano, ainda que seja difícil classificar a sua destrinça.
Se Berner era para Dell um dos poucos fios condutores entre o mundo e a sua vivência, ao jovem perdido em si mesmo por terras do Canadá não resta outra coisa que não completar o puzzle interrompido da sua vida e encontrar o seu caminho, o seu papel no Mundo. Richard Ford entrega ao personagem de Dell uma voz lacónica, ligeiramente melancólica, onde o julgamento é ideia esquecida. A sua memória vai sendo construída, a ferros.
Não é, definitivamente, fácil ser filho de criminosos, ainda que os mesmos não tenham tal rótulo escrito na testa. Mesmo como narrador e na sua função de adulto e professor veterano, Dell não perde uma fragilidade construída através de desconcertantes jogos de instabilidade emocional. Escondidos em frases ou disfarçados em ações, são os pormenores da vida de Dell que traçam a lógica deste romance que não pretende ser mais do que um reencontro com a vida interior.
Tentar ter uma vida normal é a mais árdua tarefa da vida de quem perdeu tudo ou quase. A solidão cresce a cada momento, a cada ato falhado, a cada humilhação, a cada desprezo sentido. O caos da vida de quem está só no mundo pode transformar simples atos em tarefas hercúleas. A coragem é a única arma para vencer desafios, principalmente quando se ultrapassam certos limites, fronteiras que traçam essa ténue linha entre racionalidade e insanidade, entre a paz e a violência, entre o ser e o nada.
Com “Canadá”, Richard Ford faz uma viagem ao abismo do ser humano, na tentativa de uma redenção examinativa de uma vida que foi arruinada pela irresponsabilidade alheia. Ainda que o escritor norte-americano diga que esta obra resulta da sua imaginação, é impossível não retratar e comparar a mesma face a um quotidiano que se revela em pormenores e hesitações, e que está bem próximo de todos e mistura medos com coragem, felicidade com angústia, vitórias com derrotas, sendo a vida uma imensa queda.
In Rua de Baixo
Corriam os agitados anos 1980 quando “Canadá” (Porto Editora, 2014), o mais recente livro de Richard Ford, terá – ainda que de forma inconsciente ,tido a sua génese. A convite de Dave Carpenter, romancista e ensaísta canadiano, Ford e o também escritor Raymond Carver aceitaram participar numa caça ao ganso nas margem sul do rio Saskatchewan, no Canadá.
Conhecedor das artes da caça através do legado herdado de um pai e avô caçadores, Ford aceitou de bom grado a demanda e, dessa aventura, nasceu um desafio entre o autor de “O Jornalista Desportivo” e Carver: fazer um romance sobre o episódio vivido no Canadá, de criação livre. Infelizmente Raymond Carver morreria pouco tempo depois, mas Ford não esqueceu a promessa e, duas décadas depois, “Canadá” é uma maravilhosa realidade.
Depois de editar “A Pele da Terra”, tomo terceiro do trilogia que tinha como principal personagem Frank Bascome, “Canadá” traz de regresso, seis anos depois, a escrita genial de um autor que já viu a sua obra ser reconhecida através dos prestigiados prémios Pulitzer e Pen/Faulkner.
Obra ficcional divida em três partes, “Canadá” centra-se na figura de Dell Parsons, um rapaz de quinze que vive um período de abandono familiar depois dos pais terem sido acusados de assaltar um banco (e posteriormente presos). Dell é um personagem edificado com mestria, através de uma linguagem desarmante que torna a escrita de Richard Ford num acontecimento sem paralelo.
À semelhança do que fez no romance “Wildlife”, “Canadá” traz de novo a palco a pequena cidade Great Falls, no estado de Montana. Vivem-se os finais da década de 1950 e os ecos da Segunda Guerra estão ainda muito vivos. Ainda que esta obra seja entendida do ponto de vista presente, Richard Ford dá a Dell Parsons a possibilidade de viver um discurso na primeira pessoa, fazendo um interessante regresso ao passado de modo a conseguir entender a sua posição no mundo, afastando – ou pelo menos realizando essa tentativa – fantasmas de tempos idos.
Mas tudo em “Canadá” é complexo e está inserido num universo contextual particular. Com um argumento cru, Ford relata a história de vida de Dell Parsons, filho de Bev Parsons, ex-militar e tripulante de um B-52 responsável pelos bombardeamentos aquando da Segunda Guerra Mundial, e Neeva Kamper, professora de profissão.
Deste improvável casal nasceram Dell e Berner, gémeos falsos que partilham as bruscas mudanças de quotidiano promovidas pelo espírito nómada dos seus progenitores. Bev, otimista e extrovertido por natureza, arrasta a sua família de base em base militar em busca de um local “perfeito”.
Dell e Berner sentem dificuldades de habituação e integração nas comunidades que vão conhecendo. Rapaz e rapariga fecham-se sobre si mesmos, ainda que Berner consiga libertar-se de amarras e tente socializar. Já Dell refugia-se entre duas paixões: as abelhas e o xadrez.
À medida que as páginas avançam, é cada vez mais notório que este romance assenta o seu perfil num equilíbrio entre o enredo e a própria linguagem da escrita de Ford, sendo que qualquer um destes elementos não se sobrepõe, convivendo antes de forma deliciosamente harmoniosa.
Enquanto a vida vai agudizando as dificuldades da família, Bev decide optar por um caminho que vai mudar a vida de todos. Na companhia de Neeva decide assaltar um banco no Norte do Dakota. Sem experiência e movido por uma sensação de desespero, o casal acaba por ser detido e entrega os filhos à sorte do destino. Berner opta pela fuga, Dell é salvo por uma amiga da mãe que o leva para o desconhecido Canadá.
As pradarias de Saskatchewan, não referidas no “World Book” de Dell, surgem como uma segunda oportunidade para o adolescente que é acolhido por Arthur Remlinger, um norte-americano radicado no Canadá cuja personalidade é um misto de carisma e vazio. Dell está, agora, entregue à sua sorte, mas tudo à sua volta é um cenário escuro. Ainda que a vida seja entregue vazia e seja nossa a responsabilidade de a encher, estará Dell preparado para tal tarefa?
Ao longo deste livro, sem dúvida uma das obras mais consistentes deste ano, é o poder da linguagem de Richard Ford que hipnotiza o leitor. A estória é de uma autenticidade assinalável e os personagens espelham alguns dos maiores defeitos e virtudes do ser humano, ainda que seja difícil classificar a sua destrinça.
Se Berner era para Dell um dos poucos fios condutores entre o mundo e a sua vivência, ao jovem perdido em si mesmo por terras do Canadá não resta outra coisa que não completar o puzzle interrompido da sua vida e encontrar o seu caminho, o seu papel no Mundo. Richard Ford entrega ao personagem de Dell uma voz lacónica, ligeiramente melancólica, onde o julgamento é ideia esquecida. A sua memória vai sendo construída, a ferros.
Não é, definitivamente, fácil ser filho de criminosos, ainda que os mesmos não tenham tal rótulo escrito na testa. Mesmo como narrador e na sua função de adulto e professor veterano, Dell não perde uma fragilidade construída através de desconcertantes jogos de instabilidade emocional. Escondidos em frases ou disfarçados em ações, são os pormenores da vida de Dell que traçam a lógica deste romance que não pretende ser mais do que um reencontro com a vida interior.
Tentar ter uma vida normal é a mais árdua tarefa da vida de quem perdeu tudo ou quase. A solidão cresce a cada momento, a cada ato falhado, a cada humilhação, a cada desprezo sentido. O caos da vida de quem está só no mundo pode transformar simples atos em tarefas hercúleas. A coragem é a única arma para vencer desafios, principalmente quando se ultrapassam certos limites, fronteiras que traçam essa ténue linha entre racionalidade e insanidade, entre a paz e a violência, entre o ser e o nada.
Com “Canadá”, Richard Ford faz uma viagem ao abismo do ser humano, na tentativa de uma redenção examinativa de uma vida que foi arruinada pela irresponsabilidade alheia. Ainda que o escritor norte-americano diga que esta obra resulta da sua imaginação, é impossível não retratar e comparar a mesma face a um quotidiano que se revela em pormenores e hesitações, e que está bem próximo de todos e mistura medos com coragem, felicidade com angústia, vitórias com derrotas, sendo a vida uma imensa queda.
In Rua de Baixo
Subscrever:
Mensagens (Atom)