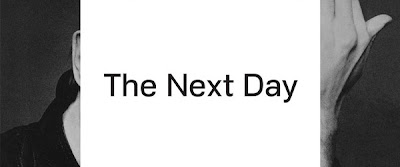Canções malditas rumo ao futuro
Ao longo de duas décadas os Low construíram uma personalidade ímpar ajudando a afirmar um género musical onde a melancolia, a tristeza, o silêncio e a cadência minimal sussurrada traçaram o perfil do movimento slowcore, – termo não muito do agrado dos membros da banda quando a sua música é referida – que tinha nos Codeine, Red House Painters e, mais tarde, Spain alguns dos mais fiéis seguidores.
A cada novo álbum o trio de Duluth, Minnesota, Estados Unidos, composto por Alan Sparhawk (voz e guitarras), Mimi Parker (voz e bateria) e Steve Garrington (baixo) aumentava o pecúlio de fãs e seguidores oferecendo ao mundo uma música litúrgica, mística, e por vezes quase religiosa. A solenidade e a frieza acompanhavam esta homilia sonora e canções como «Lullaby», «Down» ou a versão de «Transmission» dos Joy Division eram verdadeiros tour de force auditivos.
Um dos grandes trunfos dos Low é a complementaridade e harmonia entre as vozes do casal Alan e Mimi que resultam de uma profanação folk que deu origem a um reino sacrossanto fundado na ausência de muitos floridos musicais que tende para o espartano. As maiores agitações a este enclave de quietude surgiram em algumas edições levadas a cabo no século XXI que abraçaram um ambiente mais rock. Alguns desses desvios sonoros são, por exemplo, “The Great Destroyer” (2005) e “C’Mon” (2010).
Hoje, passados quase vinte anos depois da edição de “I Could Live in Hope”, um dos discos mais importantes do panorama indie da década de 1990, os Low lançam “The Invisible Way”, o quarto registo com o selo da Sub Pop, e verificamos que a criatividade e o talento continuam a ser premissas deste grupo que faz da música o seu modo de vida.
O som continua, traços gerais, a seguir os passos traçados pelos Low desde a sua génese e as quotas de emoção e dramatismo traçam tangentes entre si. As feridas abertas pela sonoridade dos criadores de “Things We Lost in Fire” cauterizam por si e as novas canções do trio têm uma aparência etérea e alma visceral.
Ainda assim, “The Invisible Way” traz algumas novidades. O maior protagonismo de Mimi Parker regista-se com clareza e cinco das onze canções do disco são da sua inteira responsabilidade. Também o espírito gospel se faz sentir, influência directa das últimas aventuras sonoras de Alan fora da banda. A produção é da responsabilidade de Jeff (Wilco) Tweedy, que consegue transmitir ao décimo álbum dos Low um carácter sublime e delicado, ainda que mais encorpado, no qual ficam cristalizados elementos de excelência auditiva que resultam, em grande parte, da tensão entre melodia e conteúdo.
O disco começa com “Plastic Cup”, uma canção que assenta na continuação melódica traçada no álbum antecessor mas com alguns elementos mais clássicos nas entrelinhas como o são os sons de piano e violinos. As vozes de Alan e Mimi continuam a apoiar-se mutuamente e é difícil perceber quem “lidera”. Sobre o acto da elaboração de canções, Sparhawk disse em tempos que: “fazer música é uma das artes mais espirituais que existem. É uma linguagem divina”. E é esse poder que sentimos ao ouvir um disco dos Low.
Ao longo de “The Invisible Way” sentimos alguns tiques do trabalho de Tweedy e em alguns casos o produto final soa “sujo”, como se estivéssemos a ouvir uma demo, e resulta na plenitude. Na segunda faixa do disco, «Amethyst», ao longo de mais de cinco minutos as pinceladas do colorido instrumental salvam o carácter mais despido da canção. As guitarras, acústicas e eléctricas, e o piano omnipresente casam na perfeição com o despojamento da canção que subsiste por si, sem rede. Um dos momentos mais bonitos do disco.
Já «So Blue» percorre o caminho inverso. O piano preenche quase por completo o ambiente da canção e apenas permite à bateria, baixo e guitarra tímida pequenos apontamentos. Também aqui se entende que este é um disco em que sente a voz etérea de Mimi de forma absolutamente inequívoca. A força da emotividade que resulta do canto de Parker purifica alma e ouvidos de quem sente uma das canções mais “tristes” de “The Invisible Way”. «Holy Ghost» segue os mesmos instintos mas a linha sonora é agora mais calma e country. Ouvir Mimi cantar: “…some holy ghost keeps me hang in on / I feel the hands but I don’t see anyone” é sentir a doçura de uma voz que abraça a transcendência e faz desejar que estes três minutos não acabem nunca.
Tal como em outros trabalhos da banda, as vozes do casal Low alteram a preponderância e em «Waiting» e «Clarence White» é Alan que assume o controlo da responsabilidade vocal. Se no primeiro caso é a falta de esperança que assola todo o espírito de uma canção que volta a assentar na força do piano, agora na companhia de uns acordes eléctricos bem definidos, em «Clarence White» a bateria é acompanhada por umas palmas que remetem para ambientes mais gospel.
«Four Score» começa com uma cadência que remete para ecos de um Nick Cave perto de calmos e oníricos espasmos sorumbáticos até que a voz de Mimi nos traz de volta à dolente realidade. A bateria aproveita o silêncio vocal e marca um tempo perdido enquanto o baixo indica o caminho por entre uma sinfonia de sussurros.
«Just Make It Stop» começa com a memória espacial dos saudosos Galaxie 500 bem presente e assume-se como um dos momentos mais “acelerados” de “The Invisible Way”. A beleza registada nestes quatro minutos sugere que, mesmo que tudo falhe, podemos sempre contar com a redenção encontrada na beleza singular e intravenosa de uma voz que desafia a mortalidade. Também num registo pacificador, «Mother» dá o ónus da responsabilidade poética à voz magnética de Sparhawk que transmite uma comoção planante. O dramatismo crescente continua a fazer parte do ADN dos Low.
Perto do final do disco, e a meio da sincopada «On My Own», é trazida para cena uma guitarra alimentada pela distorção de um pedal que confere outro grau de intensidade à música do trio. Apesar de habitarmos um espaço onde é o silêncio e a moderação sonora que mais ordenam, a electricidade que agora nos assola não é vista como uma intrusão mas sim como parte de um todo eclético que leva ao clímax. O edifício musical dos Low é construído por fortes alicerces cujas fundações são uma metáfora para a longevidade. E em forma de reconhecimento ao próprio trajecto dos Low enquanto banda que comemora duas décadas, canta-se “happy birthday”. As velas apagam-se, mordem-se, e corta-se o bolo em onze fatias. Qual delas a mais doce?
A honra de finalizar o disco cabe à voz de Mimi Parker que se entrega de forma exemplar a «To Our Knees», mais uma maravilhosa canção feita de simplicidade, competência e, acima de tudo, paixão. A melancolia sente-se à medida que os acordes avançam para o silêncio do fim de “The Invisible Way”. Independentemente da hora do dia em que se ouçam as canções dos Low, é da noite que nos lembramos, é aquele momento de vigília que sentimos quando os acordes perdem a força e chegam ao fim, quando o sono chega e a tranquilidade finalmente se aproxima. Bons sonhos e até amanhã.
In Rua de Baixo
“Don’t think about making art, just get it done. Let everyone else decide if it’s good or bad, whether they love it or hate it. While they are deciding, make even more art.” Andy Warhol
quinta-feira, 28 de março de 2013
terça-feira, 26 de março de 2013
Deolinda - Mundo Pequenino
Manifesto anti-inércia
Apesar de terem nascido em 2008, os Deolinda parecem veteranos nestas andanças da música e, utilizando as palavras escritas por Pedro da Silva Martins para serem cantadas pela voz doce de Ana Bacalhau, eles já “mandam aqui” e o “contrabaixo bate um tempo que habitua”.
Depois de “Canção ao Lado” (2008) e “Dois Selos e um Carimbo” (2010), a banda de Ana Bacalhau, Pedro da Silva Martins, Luís José Martins e Zé Pedro Leitão chega a este “Mundo Pequenino” com uma forma invejável, depois de extravasar fronteiras geográficas e musicais, sendo essa miscelânea cultural, aliás, uma das grandes razões para o resultado final das composições deste excelente conjunto de canções.
Fugindo um pouco da complexidade clássica do próprio universo sonoro, os Deolinda juntaram piano, bateria, sopros e outras cordas à excelência da musicalidade dos irmãos Martins e José Pedro Leitão, conseguindo uma nova tentação musical, um pecado sonoro em que a participação de gente como, por exemplo, António Zambujo em “Não Ouviste Nada”, abrilhanta de forma sublime o resultado global desta obra tocada e cantada.
Este disco segue os instintos e os sentidos de quatro pessoas que vivem a música de uma forma especial e que querem desconstruir a burocracia e outros vírus da inércia nacional. A recente (e merecida) digressão internacional resultou no conhecimento de outras realidades, outros mundos que hiperbolizaram os Deolinda, que hoje são uma banda mais consistente, mais forte, mais capaz de agitar pensamentos e maneiras de estar.
Se, num passado recente, “Parva que Sou”, por exemplo, se tornou num hino geracional, tal conquista deve-se, essencialmente, ao conhecimento conjuntural que os Deolinda detêm de uma sociedade com medo de si própria, que se alimenta desse pavor e que revela um Portugal, esse sim, diminuto de ideias e futuro. Ana Bacalhau é uma das vozes da revolta nacional contra um comodismo que abandonou o feudo suburbano e representa uma visão de portugalidade moldada por um triunvirato nascido da crise.
A primeira ideia e consequente música do disco, “Algo de Novo”, começa com um contrabaixo mandão, que se cola na perfeição à voz vibrante de Ana Bacalhau. As águas agitam-se, pede-se espaço para dançar, a música cresce devagarinho e de forma certeira, com destaque para o trabalho de percussão. As cordas ouvem-se por entre as batidas e sente-se a vontade de mudar de vida.
Logo a seguir, “Concordância” é um crescendo musical que começa com um rufar encantador e deambula por territórios repletos de metais e sopros que lembram momentos “ciganos” de Kusturica ou a mistura entre world music e rock dos norte-americanos Beirut. Também aqui a genialidade das letras de Pedro da Silva Martins deve ser ressalvada, pois este magnífico exemplo de belezas gramaticais só leva à elevação superlativa de adjetivos que qualificam a mestria da métrica poética dos Deolinda.
“Gente Torta” é mais uma crítica mordaz ao individualismo cinzento dos que abandonaram a capacidade de se equilibrar. Aqui, o contrabaixo marca toda a linha melódica e a voz de Ana Bacalhau vibra por entre os acordes de uma guitarra que se dedilha com prazer e confiança ao ritmo “baladeiro”. É também ao som das cordas que se inicia “Há-de Passar”, mais um exercício mordaz e bem-disposto sobre o “deixa andar”, uma das modalidades oficiais de um país castrado de vontade. “Há-de Passar” é, no fundo, uma ode ao conformismo, um espelho de quem se acomoda a uma realidade que, se remexida, se pode tornar em algo pior do que aquilo que simboliza.
Mas não é só de Portugal que se fala em “Mundo Pequenino”. Os violinos juntam-se aos restantes instrumentos e vive-se uma experiência vivida em África. “Medo de Mim” é o reflexo de um episódio que aconteceu aquando da viagem da banda por Joanesburgo, a fim de realizar um concerto nesta que é a maior concentração urbana de África do Sul, um país sitiado em si mesmo que incomoda e acomoda-se. A viagem continua com “Musiquinha”, um convite a abanar o esqueleto, a dançar, a afastar para longe o pessimismo e que, por certo, será uma das músicas mais ouvidas e faladas deste disco. “Está todo morto, não há motivação…ninguém se mexe, que grande seca…” - eis o espelho real de algumas situações entaladas numa conjuntura que aproveita a crise para parcelar a vida alheia e que castra, por completo, o zelo e a criatividade.
“Semafóro da João XXI” embala o espírito e a cadência valseira serve de elemento aglutinador para a união entre opostos que se encontram acidentalmente, à letra, e onde se obtém o tal “clique”, fruto do destino que marca uma qualquer hora. Depois de um momento romântico fruto de uma urbanidade sorvida a conta-gotas, “Seja Agora” é um hino à urgência, à capacidade individual de querer mudar e seguir em frente. Este, que foi o single de apresentação deste novo trabalho, é uma das canções mais excitantes e brilhantes deste “Mundo Pequenino”. Quem conseguir resistir a este doce em formato canção, que atire a primeira pedra.
Pegando na letra de “Seja agora”, urge dizer que os Deolinda estão a acontecer agora. O hype da banda de Ana Bacalhau e companhia surge neste preciso momento na maior da sua força e é preciso acompanhar o mesmo, sob pena de deixar passar um dos episódios mais bonitos da nova música portuguesa. Pois, de facto, o que tem de ser tem a força toda…
De regresso à música, “Pois Foi” é outro exemplo do crescendo musical que se observou na música da banda. Os violinos acrescentam dramatismo e na voz de Ana Bacalhau sente-se um sorriso bonito. A toada continua calma em “Balanço”, onde somos embalados por palavras saídas de um pesadelo económico magistralmente desenhado por Pedro da Silva Martins, um dos melhores escritores de canções deste cantinho entalado entre Espanha e o Oceano Atlântico.
“Doidos” afasta a letargia e avança por entre marchas e matéria feita de boa-disposição. A eternidade é uma característica física e a banda em género de fanfarra avança rua fora, país adiante. O disco termina com “Não Ouviste Nada”, uma das mais aconchegantes faixas de “Mundo Pequenino”, que cresce aquando do dueto entre Ana Bacalhau e António Zambujo e cujo refrão fala da cisma de uma possível traição. À imagem do país, e como diria Reininho na sua profissão de detetive que valsa, a desconfiança geral é fruto da pior das traições, é o resultado de quem fica fechado em si mesmo e teima em não evoluir.
Os Deolinda fazem a sua parte e agarram o futuro, pontapeando o presente bacoco para longe, numa mensagem de esperança. O que eles dizem escreve-se e canta-se, dança-se e sente-se, abraça-se e apregoa-se. Pois, afinal, quem fica é quem nos fala e nos (en)canta.
Alinhamento:
01.Algo Novo
02.Concordância
03.Gente Torta
04.Há-de Passar
05.Medo de Mim
06.Musiquinha
07.Semáfaro da João XXI
08.Seja Agora
09.Pois Foi
10.Balanço
11.Doidos
12.Não Ouviste Nada
Classificação do Palco: 9/10
Apesar de terem nascido em 2008, os Deolinda parecem veteranos nestas andanças da música e, utilizando as palavras escritas por Pedro da Silva Martins para serem cantadas pela voz doce de Ana Bacalhau, eles já “mandam aqui” e o “contrabaixo bate um tempo que habitua”.
Depois de “Canção ao Lado” (2008) e “Dois Selos e um Carimbo” (2010), a banda de Ana Bacalhau, Pedro da Silva Martins, Luís José Martins e Zé Pedro Leitão chega a este “Mundo Pequenino” com uma forma invejável, depois de extravasar fronteiras geográficas e musicais, sendo essa miscelânea cultural, aliás, uma das grandes razões para o resultado final das composições deste excelente conjunto de canções.
Fugindo um pouco da complexidade clássica do próprio universo sonoro, os Deolinda juntaram piano, bateria, sopros e outras cordas à excelência da musicalidade dos irmãos Martins e José Pedro Leitão, conseguindo uma nova tentação musical, um pecado sonoro em que a participação de gente como, por exemplo, António Zambujo em “Não Ouviste Nada”, abrilhanta de forma sublime o resultado global desta obra tocada e cantada.
Este disco segue os instintos e os sentidos de quatro pessoas que vivem a música de uma forma especial e que querem desconstruir a burocracia e outros vírus da inércia nacional. A recente (e merecida) digressão internacional resultou no conhecimento de outras realidades, outros mundos que hiperbolizaram os Deolinda, que hoje são uma banda mais consistente, mais forte, mais capaz de agitar pensamentos e maneiras de estar.
Se, num passado recente, “Parva que Sou”, por exemplo, se tornou num hino geracional, tal conquista deve-se, essencialmente, ao conhecimento conjuntural que os Deolinda detêm de uma sociedade com medo de si própria, que se alimenta desse pavor e que revela um Portugal, esse sim, diminuto de ideias e futuro. Ana Bacalhau é uma das vozes da revolta nacional contra um comodismo que abandonou o feudo suburbano e representa uma visão de portugalidade moldada por um triunvirato nascido da crise.
A primeira ideia e consequente música do disco, “Algo de Novo”, começa com um contrabaixo mandão, que se cola na perfeição à voz vibrante de Ana Bacalhau. As águas agitam-se, pede-se espaço para dançar, a música cresce devagarinho e de forma certeira, com destaque para o trabalho de percussão. As cordas ouvem-se por entre as batidas e sente-se a vontade de mudar de vida.
Logo a seguir, “Concordância” é um crescendo musical que começa com um rufar encantador e deambula por territórios repletos de metais e sopros que lembram momentos “ciganos” de Kusturica ou a mistura entre world music e rock dos norte-americanos Beirut. Também aqui a genialidade das letras de Pedro da Silva Martins deve ser ressalvada, pois este magnífico exemplo de belezas gramaticais só leva à elevação superlativa de adjetivos que qualificam a mestria da métrica poética dos Deolinda.
“Gente Torta” é mais uma crítica mordaz ao individualismo cinzento dos que abandonaram a capacidade de se equilibrar. Aqui, o contrabaixo marca toda a linha melódica e a voz de Ana Bacalhau vibra por entre os acordes de uma guitarra que se dedilha com prazer e confiança ao ritmo “baladeiro”. É também ao som das cordas que se inicia “Há-de Passar”, mais um exercício mordaz e bem-disposto sobre o “deixa andar”, uma das modalidades oficiais de um país castrado de vontade. “Há-de Passar” é, no fundo, uma ode ao conformismo, um espelho de quem se acomoda a uma realidade que, se remexida, se pode tornar em algo pior do que aquilo que simboliza.
Mas não é só de Portugal que se fala em “Mundo Pequenino”. Os violinos juntam-se aos restantes instrumentos e vive-se uma experiência vivida em África. “Medo de Mim” é o reflexo de um episódio que aconteceu aquando da viagem da banda por Joanesburgo, a fim de realizar um concerto nesta que é a maior concentração urbana de África do Sul, um país sitiado em si mesmo que incomoda e acomoda-se. A viagem continua com “Musiquinha”, um convite a abanar o esqueleto, a dançar, a afastar para longe o pessimismo e que, por certo, será uma das músicas mais ouvidas e faladas deste disco. “Está todo morto, não há motivação…ninguém se mexe, que grande seca…” - eis o espelho real de algumas situações entaladas numa conjuntura que aproveita a crise para parcelar a vida alheia e que castra, por completo, o zelo e a criatividade.
“Semafóro da João XXI” embala o espírito e a cadência valseira serve de elemento aglutinador para a união entre opostos que se encontram acidentalmente, à letra, e onde se obtém o tal “clique”, fruto do destino que marca uma qualquer hora. Depois de um momento romântico fruto de uma urbanidade sorvida a conta-gotas, “Seja Agora” é um hino à urgência, à capacidade individual de querer mudar e seguir em frente. Este, que foi o single de apresentação deste novo trabalho, é uma das canções mais excitantes e brilhantes deste “Mundo Pequenino”. Quem conseguir resistir a este doce em formato canção, que atire a primeira pedra.
Pegando na letra de “Seja agora”, urge dizer que os Deolinda estão a acontecer agora. O hype da banda de Ana Bacalhau e companhia surge neste preciso momento na maior da sua força e é preciso acompanhar o mesmo, sob pena de deixar passar um dos episódios mais bonitos da nova música portuguesa. Pois, de facto, o que tem de ser tem a força toda…
De regresso à música, “Pois Foi” é outro exemplo do crescendo musical que se observou na música da banda. Os violinos acrescentam dramatismo e na voz de Ana Bacalhau sente-se um sorriso bonito. A toada continua calma em “Balanço”, onde somos embalados por palavras saídas de um pesadelo económico magistralmente desenhado por Pedro da Silva Martins, um dos melhores escritores de canções deste cantinho entalado entre Espanha e o Oceano Atlântico.
“Doidos” afasta a letargia e avança por entre marchas e matéria feita de boa-disposição. A eternidade é uma característica física e a banda em género de fanfarra avança rua fora, país adiante. O disco termina com “Não Ouviste Nada”, uma das mais aconchegantes faixas de “Mundo Pequenino”, que cresce aquando do dueto entre Ana Bacalhau e António Zambujo e cujo refrão fala da cisma de uma possível traição. À imagem do país, e como diria Reininho na sua profissão de detetive que valsa, a desconfiança geral é fruto da pior das traições, é o resultado de quem fica fechado em si mesmo e teima em não evoluir.
Os Deolinda fazem a sua parte e agarram o futuro, pontapeando o presente bacoco para longe, numa mensagem de esperança. O que eles dizem escreve-se e canta-se, dança-se e sente-se, abraça-se e apregoa-se. Pois, afinal, quem fica é quem nos fala e nos (en)canta.
Alinhamento:
01.Algo Novo
02.Concordância
03.Gente Torta
04.Há-de Passar
05.Medo de Mim
06.Musiquinha
07.Semáfaro da João XXI
08.Seja Agora
09.Pois Foi
10.Balanço
11.Doidos
12.Não Ouviste Nada
Classificação do Palco: 9/10
AFONSO CRUZ
em entrevista
«Acho que, a partir das nossas acções, conseguimos renascer de algum modo dentro de todas as pessoas que conseguimos tocar, seja através de gestos, palavras ou omissões.» Mais uma entrevista com o selo RDB.
Apreciador de labirintos que podem ser sinónimo da própria escrita e do acto de viver, Afonso Cruz é um dos autores mais prolíferos da sua geração. Tendo como pretexto a edição de “Livro do Ano” e um novo volume da “Enciclopédia da Estória Universal“, trocámos algumas ideias com este homem que afirma que a complementaridade entre escrita e imagem pode fazer o leitor voar nas asas da imaginação.
Escritor, músico, ilustrador, realizador. Comunica através de diferentes formas de expressão. Existe alguma hierarquia dentro destas áreas ou a escolha é arbitrária?
Não existe uma hierarquia em termos absolutos, mas se considerarmos determinado dia, ou altura do ano, sim, poderá haver uma escala de valores. Por vezes preciso de tocar e isso ganha uma importância maior. Outras vezes preciso de escrever e, nesse caso, a escrita usurpa o trono. As minhas actividades são uma espécie de golpe de estado dentro da alma. Os prazos também determinam muita coisa, visto que me torno um ilustrador compulsivo quando tenho ilustrações para entregar.
Mesmo enquanto escritor dedica-se a diferentes universos. Entre as suas últimas publicações contamos com “Livro do Ano” e mais um tomo da Enciclopédia da Estória Universal, desta vez referente aos “Arquivos de Dresner”. De um lado um trabalho ilustrado em forma de diário e, do outro, um exercício mais literário. Qual dos dois lhe deu mais prazer escrever/criar?
Não consigo responder. É como estar com dois amigos de quem gosto bastante, apesar de as suas personalidades poderem ser muito diferentes ou até opostas; ou escolher entre uma pilsener checa ou uma ale belga. Mas o facto de me mover em registos diferentes também é uma ajuda para combater uma eventual monotonia e permite-me explorar outras maneiras de comunicar, incluindo textos para o qual não teria qualquer inclinação ou apetência para escrever.
Tendo em conta as duas referidas edições, como nasceu a ideia para o “Livro do Ano”? Ao folhear o diário desta «menina que carrega um jardim na cabeça», verificamos que o mesmo começa na primavera mas, a sensação que dá, é que pode ser livro de forma arbitrária. Acredita que a vida começa com a estação das flores?
Normalmente festejamos os começos na altura do nascimento e não no da concepção. Hoje, o ano começa no solstício de Inverno, ou perto dele, – o que corresponde à concepção e não ao acto de dar à luz – mas o calendário ainda tem a herança de outros tempos em que o ano começava na Primavera. Basta reparar na ligação de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro às palavras “sete”, “oito”, “nove e “dez”. Ou seja, de um modo empírico, é na Primavera que sentimos a natureza despontar. Sabemos que no Inverno os dias começam a ficar maiores, mas não o sentimos como um nascimento. De resto, O Livro do Ano pode ser lido de forma arbitrária, ou quase, pois os fragmentos do diário não são propriamente narrativos e conseguem, muitos deles, ser compreendidos isoladamente.
O que nasceu primeiro neste projecto? As imagens ou a história?
Escrevi o texto antes de ter as ilustrações, mas enquanto escrevia formava, simultaneamente, uma imagem mental daquela situação e do modo como poderia, com a ilustração, ter um complemento da escrita, um prolongamento Para mim é muito importante que algumas coisas sejam ditas através das imagens e, para isso, tenho de fazer com que as palavras não ocupem o espaço todo. E, neste caso, também é muito importante que a imagem não mostre tudo, pois isso tornaria as palavras redundantes. Como se a escrita fosse uma asa e as ilustrações outra asa, formando em conjunto a possibilidade de voar.
Metaforicamente, o leitor é confrontado no livro com uma instituição apelidada de «Instituto das Pessoas Normais». A “marginalidade” e o absurdo enquanto comportamentos fora dos padrões ditos normais podem ser a desejada fuga para a felicidade?
Não acho que tenha a ver com a felicidade. O conforto daquilo que conhecemos, das rotinas, pode ser uma fonte de felicidade. Do mesmo modo que a aventura, o encontro com o desconhecido, a mudança, o comportamento incomum ou original, também podem fazer-nos felizes. Mas a rotina, como todos sabemos, também pode ser um suplício, e as surpresas, as novidades, podem também ser uns pesadelos. Mas acho que a evolução se dá quando algo absurdo se torna normal. De repente, a Terra deixa de ser plana para ser redonda. Por feitio, prefiro a mudança e o desassossego.
Joga entre o silêncio e o grito, entre o branco e o preto, entre a fábula e a narrativa poética. A virtude da sua escrita resulta da junção destas características, entre contrastes e elementos que se completam?
Não sei se é uma virtude, mas gosto de contradições, de ângulos, de opiniões marginais, de perspectivas. Procuro isso à minha volta e acho que depois transparece na escrita.
Num registo diferente, a “Enciclopédia da Estória Universal” aborda diversas temáticas e agrupa vários tipos de escrita. A ficção mistura-se com os pensamentos filosóficos e o ensaio, o mito alia-se a curiosidades diversas e os provérbios interagem com o discurso social. Estamos perante o livro completo?
A Enciclopédia pode incluir, de facto, inúmeros registos, mas acho que é apenas isso. É um lugar onde posso andar de um oposto para outro, onde posso confrontar as minhas próprias opiniões ou convicções, onde posso duvidar, mas também arriscar responder, timidamente, a uma ou outra coisa que me perturba. A noção de livro completo é quase religiosa e coloca-nos em frente do absoluto, do Todo, como se um livro pudesse conter tudo. E ainda nos deixa outro problema: se houvesse um livro completo, não o poderíamos saber, pois para ter essa certeza seria preciso saber tudo, para poder confirmar que não lhe falta nada. Felizmente, à excepção do professor Marcelo, ninguém sabe tanto assim.
As metáforas e a forma divertida como escreve sobre alguns temas levam o leitor para um labirinto muito sagaz. Será este conjunto de livros obra da sua personalidade de mensageiro, enquanto equra?
Mensageiros, como os equra – que foram baseados nos Hekura de outro povo, os Inomami -, têm normalmente tendência para o embuste: reconhecemos essas características em Mercúrio, Legbá, Toth, Hermes, etc. Eram todos mensageiros, e todos um pouco burlões. Deuses de labirintos e de encruzilhadas, lugares onde se lhes prestava (ou presta, em alguns casos) culto. Gosto muito da ideia de labirinto, pois acho que é uma excelente analogia da nossa própria vida, que também é uma encruzilhada de opções, de caminhos, de enganos, de tentativas, de encontros.
Neste volume enciclopédico acedemos ao universo dos “Arquivos de Dresner”. Como é feita a escolha das entradas que constituem cada tomo? Como dirige o processo da investigação em si?
Por vezes, de uma forma natural. Alguns temas simplesmente vão crescendo e vão compondo o caroço de um volume, vão criando tentáculos para outros verbetes. Neste livro, os Abokowo tiveram algum protagonismo e, por consequência, deram alguma visibilidade ao poeta Stamboliski, que viveu vários meses com estes índios. Os Abokowo são uma tribo que reúne uma série de características que me agradam filosoficamente, por isso, a descrição de alguns dos seus costumes, desde alguns mais gerais a outros mais particulares, acabaram por dominar este volume da Enciclopédia. Os arquivos de Dresner, contudo, não se esgotam neste volume.
Disse numa entrevista que «o livro e as histórias são reencarnações em vida». O seu principal objectivo enquanto autor, escritor, poeta, é passar o seu testemunho, a sua experiência para outrem, para quem recebe a sua mensagem?
Acredito que nos transformamos naquilo que fazemos. Acho que, a partir das nossas acções, conseguimos renascer de algum modo dentro de todas as pessoas que conseguimos tocar, seja através de gestos, palavras ou omissões. Todos nós nos transformamos, nos esgotamos, e morremos por aquilo que mais amamos, que podem ser coisas, lugares, animais, pessoas, ideias… Ao passar a alguém aquilo que é mais importante para nós, estamos a entregar-lhes aquilo que consideramos essencial, aquilo que podemos chamar de alma.
Quantos volumes foram pensados para esta enciclopédia?
Já pensei em números, mas acho que escreverei até que um destes dois se farte: ou eu ou os leitores.
Que podemos esperar dos seus próximos projectos? Vamos ter mais palavra, imagem ou som?
Há, pelo menos, um romance e um livro ilustrado que serão publicados este ano. Os The Soaked Lamb também terão uma pequena surpresa.
In Rua de Baixo
Apreciador de labirintos que podem ser sinónimo da própria escrita e do acto de viver, Afonso Cruz é um dos autores mais prolíferos da sua geração. Tendo como pretexto a edição de “Livro do Ano” e um novo volume da “Enciclopédia da Estória Universal“, trocámos algumas ideias com este homem que afirma que a complementaridade entre escrita e imagem pode fazer o leitor voar nas asas da imaginação.
Escritor, músico, ilustrador, realizador. Comunica através de diferentes formas de expressão. Existe alguma hierarquia dentro destas áreas ou a escolha é arbitrária?
Não existe uma hierarquia em termos absolutos, mas se considerarmos determinado dia, ou altura do ano, sim, poderá haver uma escala de valores. Por vezes preciso de tocar e isso ganha uma importância maior. Outras vezes preciso de escrever e, nesse caso, a escrita usurpa o trono. As minhas actividades são uma espécie de golpe de estado dentro da alma. Os prazos também determinam muita coisa, visto que me torno um ilustrador compulsivo quando tenho ilustrações para entregar.
Mesmo enquanto escritor dedica-se a diferentes universos. Entre as suas últimas publicações contamos com “Livro do Ano” e mais um tomo da Enciclopédia da Estória Universal, desta vez referente aos “Arquivos de Dresner”. De um lado um trabalho ilustrado em forma de diário e, do outro, um exercício mais literário. Qual dos dois lhe deu mais prazer escrever/criar?
Não consigo responder. É como estar com dois amigos de quem gosto bastante, apesar de as suas personalidades poderem ser muito diferentes ou até opostas; ou escolher entre uma pilsener checa ou uma ale belga. Mas o facto de me mover em registos diferentes também é uma ajuda para combater uma eventual monotonia e permite-me explorar outras maneiras de comunicar, incluindo textos para o qual não teria qualquer inclinação ou apetência para escrever.
Tendo em conta as duas referidas edições, como nasceu a ideia para o “Livro do Ano”? Ao folhear o diário desta «menina que carrega um jardim na cabeça», verificamos que o mesmo começa na primavera mas, a sensação que dá, é que pode ser livro de forma arbitrária. Acredita que a vida começa com a estação das flores?
Normalmente festejamos os começos na altura do nascimento e não no da concepção. Hoje, o ano começa no solstício de Inverno, ou perto dele, – o que corresponde à concepção e não ao acto de dar à luz – mas o calendário ainda tem a herança de outros tempos em que o ano começava na Primavera. Basta reparar na ligação de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro às palavras “sete”, “oito”, “nove e “dez”. Ou seja, de um modo empírico, é na Primavera que sentimos a natureza despontar. Sabemos que no Inverno os dias começam a ficar maiores, mas não o sentimos como um nascimento. De resto, O Livro do Ano pode ser lido de forma arbitrária, ou quase, pois os fragmentos do diário não são propriamente narrativos e conseguem, muitos deles, ser compreendidos isoladamente.
O que nasceu primeiro neste projecto? As imagens ou a história?
Escrevi o texto antes de ter as ilustrações, mas enquanto escrevia formava, simultaneamente, uma imagem mental daquela situação e do modo como poderia, com a ilustração, ter um complemento da escrita, um prolongamento Para mim é muito importante que algumas coisas sejam ditas através das imagens e, para isso, tenho de fazer com que as palavras não ocupem o espaço todo. E, neste caso, também é muito importante que a imagem não mostre tudo, pois isso tornaria as palavras redundantes. Como se a escrita fosse uma asa e as ilustrações outra asa, formando em conjunto a possibilidade de voar.
Metaforicamente, o leitor é confrontado no livro com uma instituição apelidada de «Instituto das Pessoas Normais». A “marginalidade” e o absurdo enquanto comportamentos fora dos padrões ditos normais podem ser a desejada fuga para a felicidade?
Não acho que tenha a ver com a felicidade. O conforto daquilo que conhecemos, das rotinas, pode ser uma fonte de felicidade. Do mesmo modo que a aventura, o encontro com o desconhecido, a mudança, o comportamento incomum ou original, também podem fazer-nos felizes. Mas a rotina, como todos sabemos, também pode ser um suplício, e as surpresas, as novidades, podem também ser uns pesadelos. Mas acho que a evolução se dá quando algo absurdo se torna normal. De repente, a Terra deixa de ser plana para ser redonda. Por feitio, prefiro a mudança e o desassossego.
Joga entre o silêncio e o grito, entre o branco e o preto, entre a fábula e a narrativa poética. A virtude da sua escrita resulta da junção destas características, entre contrastes e elementos que se completam?
Não sei se é uma virtude, mas gosto de contradições, de ângulos, de opiniões marginais, de perspectivas. Procuro isso à minha volta e acho que depois transparece na escrita.
Num registo diferente, a “Enciclopédia da Estória Universal” aborda diversas temáticas e agrupa vários tipos de escrita. A ficção mistura-se com os pensamentos filosóficos e o ensaio, o mito alia-se a curiosidades diversas e os provérbios interagem com o discurso social. Estamos perante o livro completo?
A Enciclopédia pode incluir, de facto, inúmeros registos, mas acho que é apenas isso. É um lugar onde posso andar de um oposto para outro, onde posso confrontar as minhas próprias opiniões ou convicções, onde posso duvidar, mas também arriscar responder, timidamente, a uma ou outra coisa que me perturba. A noção de livro completo é quase religiosa e coloca-nos em frente do absoluto, do Todo, como se um livro pudesse conter tudo. E ainda nos deixa outro problema: se houvesse um livro completo, não o poderíamos saber, pois para ter essa certeza seria preciso saber tudo, para poder confirmar que não lhe falta nada. Felizmente, à excepção do professor Marcelo, ninguém sabe tanto assim.
As metáforas e a forma divertida como escreve sobre alguns temas levam o leitor para um labirinto muito sagaz. Será este conjunto de livros obra da sua personalidade de mensageiro, enquanto equra?
Mensageiros, como os equra – que foram baseados nos Hekura de outro povo, os Inomami -, têm normalmente tendência para o embuste: reconhecemos essas características em Mercúrio, Legbá, Toth, Hermes, etc. Eram todos mensageiros, e todos um pouco burlões. Deuses de labirintos e de encruzilhadas, lugares onde se lhes prestava (ou presta, em alguns casos) culto. Gosto muito da ideia de labirinto, pois acho que é uma excelente analogia da nossa própria vida, que também é uma encruzilhada de opções, de caminhos, de enganos, de tentativas, de encontros.
Neste volume enciclopédico acedemos ao universo dos “Arquivos de Dresner”. Como é feita a escolha das entradas que constituem cada tomo? Como dirige o processo da investigação em si?
Por vezes, de uma forma natural. Alguns temas simplesmente vão crescendo e vão compondo o caroço de um volume, vão criando tentáculos para outros verbetes. Neste livro, os Abokowo tiveram algum protagonismo e, por consequência, deram alguma visibilidade ao poeta Stamboliski, que viveu vários meses com estes índios. Os Abokowo são uma tribo que reúne uma série de características que me agradam filosoficamente, por isso, a descrição de alguns dos seus costumes, desde alguns mais gerais a outros mais particulares, acabaram por dominar este volume da Enciclopédia. Os arquivos de Dresner, contudo, não se esgotam neste volume.
Disse numa entrevista que «o livro e as histórias são reencarnações em vida». O seu principal objectivo enquanto autor, escritor, poeta, é passar o seu testemunho, a sua experiência para outrem, para quem recebe a sua mensagem?
Acredito que nos transformamos naquilo que fazemos. Acho que, a partir das nossas acções, conseguimos renascer de algum modo dentro de todas as pessoas que conseguimos tocar, seja através de gestos, palavras ou omissões. Todos nós nos transformamos, nos esgotamos, e morremos por aquilo que mais amamos, que podem ser coisas, lugares, animais, pessoas, ideias… Ao passar a alguém aquilo que é mais importante para nós, estamos a entregar-lhes aquilo que consideramos essencial, aquilo que podemos chamar de alma.
Quantos volumes foram pensados para esta enciclopédia?
Já pensei em números, mas acho que escreverei até que um destes dois se farte: ou eu ou os leitores.
Que podemos esperar dos seus próximos projectos? Vamos ter mais palavra, imagem ou som?
Há, pelo menos, um romance e um livro ilustrado que serão publicados este ano. Os The Soaked Lamb também terão uma pequena surpresa.
In Rua de Baixo
sexta-feira, 22 de março de 2013
“ENCICLOPÉDIA DE ESTÓRIA UNIVERSAL – ARQUIVOS DE DRESNER”
de AFONSO CRUZ
Um livro para todos os anos
Autor de vários recursos e mestre na multidisciplinaridade artística, Afonso Cruz, aqui no seu papel de escriba, acaba de lançar mais um tomo, o terceiro, da sua “Enciclopédia da Estória Universal”, desta vez dedicada em exclusivo aos “Arquivos de Dresner”.
Quando, em 2010, Cruz venceu o “Grande Prémio de Conto Camilo Castelo Branco” com o primeiro volume desta série, a surpresa pelo conteúdo da mesma deixou muitos dos leitores emersos num tipo de escrita que vai para além do simples relato narrativo, invadindo territórios onde o aforismo, o provérbio, a curiosidade, a reflexão, a parábola, o mito e a reflexão filosófica coexistem de forma pacífica e natural.
Este novo volume, que chega aos escaparates pela mão da Alfaguara, chancela do Grupo Objectiva, agarra novamente nessa amálgama de conceitos e resulta numa bem-disposta e inteligente visão de um mundo que extravasa as fronteiras de um saber compartimentado.
Tendo como uma das suas paixões de vida a viagem, sendo que já palmilhou dezenas de países nos últimos anos, Afonso Cruz traça um roteiro diferente nesta aliciante abordagem literária lúdica que, apesar de estar organizada alfabeticamente, faz saltitar o leitor por entre vogais e consoantes que se transfiguram em labirintos narrativos, alicerçados em fragmentos retirados de uma natureza humana rica em baralhar o real com o onírico.
Neste “Arquivos de Dresner”, as entradas escolhidas por Afonso Cruz trazem ao entendimento do leitor nomes como H. Melville, Malgorzata Zajac, Petar, Stamboliski, Agnese Guzman, entre outros, alguns deles personagens que ganharam vida noutras obras do autor.
Entre poesia, pensamentos e algumas estórias ficamos a conhecer atletas olímpicos que perdem competições pelo amor à botânica, exploradores que teimam em desafiar as leis dogmáticas, amantes de literatura possuídos por espíritos de personagens que habitam nos livros, tribos indígenas que fazem da ingenuidade lírica o seu modo de vida e figuras que desafiam a lógica.
Na escrita de Afonso Cruz a ficção mistura-se com uma qualquer realidade, a verosimilhança é apanhada numa cascata de dúvidas e (im)possibilidades. Nesta enciclopédia está, acima de tudo, patente a mestria da escrita ousada, dinâmica e lúcida de Cruz, um autor que procura, fora da narrativa mais comum, dar asas a uma imaginação que nos leva de encontro a um paraíso ilustrado com intensidades cromáticas diversas.
Existem livros dentro deste livro, estórias dentro da estória, vidas dentro da vida. Aqui, conceitos como, por exemplo, o misticismo e a ciência, não pretendem ser antagónicos mas sim complementares, exibindo um elevado grau de parentesco e cumplicidade. Existe uma ligação intrínseca que alimenta e dá consistência a esta obra.
Wilhem Moller, um dos nomes citados nesta viagem literária, afirma que «Ler é uma maneira de ser. Tal como os Homens usam roupas, a alma usa livros.» E a nossa, acreditem, vai alimentar-se destes “Arquivos de Dresner” até à exaustão, pois esta recente aventura literária de Afonso Cruz é mais que um livro – é alimento para o pensamento, combustível para a catarse.
Numa altura em que a cadência da publicação de livros é um fenómeno crescente, são obras como esta que mais se destacam, pois oferecem aquilo que outras não conseguem: traços autênticos e personalidade única.
In Rua de Baixo
Autor de vários recursos e mestre na multidisciplinaridade artística, Afonso Cruz, aqui no seu papel de escriba, acaba de lançar mais um tomo, o terceiro, da sua “Enciclopédia da Estória Universal”, desta vez dedicada em exclusivo aos “Arquivos de Dresner”.
Quando, em 2010, Cruz venceu o “Grande Prémio de Conto Camilo Castelo Branco” com o primeiro volume desta série, a surpresa pelo conteúdo da mesma deixou muitos dos leitores emersos num tipo de escrita que vai para além do simples relato narrativo, invadindo territórios onde o aforismo, o provérbio, a curiosidade, a reflexão, a parábola, o mito e a reflexão filosófica coexistem de forma pacífica e natural.
Este novo volume, que chega aos escaparates pela mão da Alfaguara, chancela do Grupo Objectiva, agarra novamente nessa amálgama de conceitos e resulta numa bem-disposta e inteligente visão de um mundo que extravasa as fronteiras de um saber compartimentado.
Tendo como uma das suas paixões de vida a viagem, sendo que já palmilhou dezenas de países nos últimos anos, Afonso Cruz traça um roteiro diferente nesta aliciante abordagem literária lúdica que, apesar de estar organizada alfabeticamente, faz saltitar o leitor por entre vogais e consoantes que se transfiguram em labirintos narrativos, alicerçados em fragmentos retirados de uma natureza humana rica em baralhar o real com o onírico.
Neste “Arquivos de Dresner”, as entradas escolhidas por Afonso Cruz trazem ao entendimento do leitor nomes como H. Melville, Malgorzata Zajac, Petar, Stamboliski, Agnese Guzman, entre outros, alguns deles personagens que ganharam vida noutras obras do autor.
Entre poesia, pensamentos e algumas estórias ficamos a conhecer atletas olímpicos que perdem competições pelo amor à botânica, exploradores que teimam em desafiar as leis dogmáticas, amantes de literatura possuídos por espíritos de personagens que habitam nos livros, tribos indígenas que fazem da ingenuidade lírica o seu modo de vida e figuras que desafiam a lógica.
Na escrita de Afonso Cruz a ficção mistura-se com uma qualquer realidade, a verosimilhança é apanhada numa cascata de dúvidas e (im)possibilidades. Nesta enciclopédia está, acima de tudo, patente a mestria da escrita ousada, dinâmica e lúcida de Cruz, um autor que procura, fora da narrativa mais comum, dar asas a uma imaginação que nos leva de encontro a um paraíso ilustrado com intensidades cromáticas diversas.
Existem livros dentro deste livro, estórias dentro da estória, vidas dentro da vida. Aqui, conceitos como, por exemplo, o misticismo e a ciência, não pretendem ser antagónicos mas sim complementares, exibindo um elevado grau de parentesco e cumplicidade. Existe uma ligação intrínseca que alimenta e dá consistência a esta obra.
Wilhem Moller, um dos nomes citados nesta viagem literária, afirma que «Ler é uma maneira de ser. Tal como os Homens usam roupas, a alma usa livros.» E a nossa, acreditem, vai alimentar-se destes “Arquivos de Dresner” até à exaustão, pois esta recente aventura literária de Afonso Cruz é mais que um livro – é alimento para o pensamento, combustível para a catarse.
Numa altura em que a cadência da publicação de livros é um fenómeno crescente, são obras como esta que mais se destacam, pois oferecem aquilo que outras não conseguem: traços autênticos e personalidade única.
In Rua de Baixo
quinta-feira, 21 de março de 2013
“O LIVRO DO ANO”
de AFONSO CRUZ
Refúgio ilustrado de felicidade
Interdisciplinar, multifacetado e reconhecidamente premiado, Afonso Cruz é um verdadeiro homem de muitos ofícios. Da música à ilustração, da escrita à realização cinematográfica, o autor de obras como “Os Livros que Devoram o Meu Pai” ou “A Boneca de Kokoschka” – e vencedor do Prémio da União Europeia de Literatura 2012 – faz-nos chegar, através da Alfaguara, chancela da Objectiva, a sua nova experiência sensorial em formato de livro.
Na contracapa desta maravilhosa fábula ilustrada somos alertados para o que nos espera. «Estas são as páginas do diário de uma menina que carrega um jardim na cabeça…». E esta menina torna-se parte do nosso ser enquanto poetas ou sonhadores. Pode ser o somatório das nossas partes, pode ser a nossa memória infantil, o nosso refúgio de felicidade.
Tal como o florescer da esperança, Afonso Cruz inicia esta viagem errática na Primavera. O dia 21 de março é o ponto de partida para uma epifania por universos onde a ternura abraça o absurdo e a saudade vai para lá do preto-e-branco das mais de 140 páginas.
Este é um livro que vai buscar a sua cor à mestria da escrita de Afonso Cruz e não ao colorido das páginas. À medida que avançamos no calendário e nas estações do ano somos convidados a entender o mundo como ele se faz descobrir a quem tem a mente aberta ao futuro, à novidade.
Os poemas, os aforismos e as ideias postas a nu pelo espírito de uma criança com sede do que ainda está para vir fascinam o folhear deste ano, feito com letras e palavras soltas que encontram amparo nas ilustrações simples mas não simplistas.
Seja do irmão, tio, pai, avô ou da própria menina, os testemunhos que povoam “O Livro do Ano” são merecedores de uma leitura atenta pois é nas entrelinhas que se descobre a ironia – «Nenhum homem é mais alto que o seu chapéu. A não ser quando levanta os braços. Isso acontece quando está feliz. Ou quando é assaltado» -, a ingenuidade – «As fotografias antigas são muito parecidas connosco quando éramos pequenos» -, o absurdo – «Todos os dias faço coisas estranhas, pois tenho medo do Instituto das Pessoas Normais» – ou a metáfora – «Às vezes, trago um deserto para casa. É quando me sinto sozinha.»
No fundo, esta menina é um pouco como todos nós, seres de diferentes idades e tamanhos e feitos através de uma equação de doses de incerteza, amor, dogmas, medos, desejos, sonhos. E quando pensamos que, depois de uma leitura desenfreada e compulsiva, já acabámos de ler esta pérola de Afonso Cruz, voltamos atrás, descobrimos um ou outro pormenor e deixamos o livro perto de nós, longe da estante, pois a qualquer momento voltamos a folhear, a sentir uma sombra amadurecer ou a calçar os sapatos nas mãos. Ou não estaríamos a falar de um livro que começou a ser escrito num dia 30 de Fevereiro.
Sim, ainda é cedo para fazer uma lista com os melhores livros de 2013, mas este “O Livro do Ano” encanta, surpreende, enternece, aloja-se no nosso coração. É obrigatório ler e ter. A 1 de agosto Afonso Cruz escreveu: «Quanto mais facilidade tem uma música em entrar na cabeça, mais dificuldade tem em sair.» Também repleto de melodia, este livro entra-nos de forma imediata e fica. São gritos mudos que permanecem no nosso âmago fechados a sete chaves. Absolutamente imperdível!
In Rua de Baixo
Interdisciplinar, multifacetado e reconhecidamente premiado, Afonso Cruz é um verdadeiro homem de muitos ofícios. Da música à ilustração, da escrita à realização cinematográfica, o autor de obras como “Os Livros que Devoram o Meu Pai” ou “A Boneca de Kokoschka” – e vencedor do Prémio da União Europeia de Literatura 2012 – faz-nos chegar, através da Alfaguara, chancela da Objectiva, a sua nova experiência sensorial em formato de livro.
Na contracapa desta maravilhosa fábula ilustrada somos alertados para o que nos espera. «Estas são as páginas do diário de uma menina que carrega um jardim na cabeça…». E esta menina torna-se parte do nosso ser enquanto poetas ou sonhadores. Pode ser o somatório das nossas partes, pode ser a nossa memória infantil, o nosso refúgio de felicidade.
Tal como o florescer da esperança, Afonso Cruz inicia esta viagem errática na Primavera. O dia 21 de março é o ponto de partida para uma epifania por universos onde a ternura abraça o absurdo e a saudade vai para lá do preto-e-branco das mais de 140 páginas.
Este é um livro que vai buscar a sua cor à mestria da escrita de Afonso Cruz e não ao colorido das páginas. À medida que avançamos no calendário e nas estações do ano somos convidados a entender o mundo como ele se faz descobrir a quem tem a mente aberta ao futuro, à novidade.
Os poemas, os aforismos e as ideias postas a nu pelo espírito de uma criança com sede do que ainda está para vir fascinam o folhear deste ano, feito com letras e palavras soltas que encontram amparo nas ilustrações simples mas não simplistas.
Seja do irmão, tio, pai, avô ou da própria menina, os testemunhos que povoam “O Livro do Ano” são merecedores de uma leitura atenta pois é nas entrelinhas que se descobre a ironia – «Nenhum homem é mais alto que o seu chapéu. A não ser quando levanta os braços. Isso acontece quando está feliz. Ou quando é assaltado» -, a ingenuidade – «As fotografias antigas são muito parecidas connosco quando éramos pequenos» -, o absurdo – «Todos os dias faço coisas estranhas, pois tenho medo do Instituto das Pessoas Normais» – ou a metáfora – «Às vezes, trago um deserto para casa. É quando me sinto sozinha.»
No fundo, esta menina é um pouco como todos nós, seres de diferentes idades e tamanhos e feitos através de uma equação de doses de incerteza, amor, dogmas, medos, desejos, sonhos. E quando pensamos que, depois de uma leitura desenfreada e compulsiva, já acabámos de ler esta pérola de Afonso Cruz, voltamos atrás, descobrimos um ou outro pormenor e deixamos o livro perto de nós, longe da estante, pois a qualquer momento voltamos a folhear, a sentir uma sombra amadurecer ou a calçar os sapatos nas mãos. Ou não estaríamos a falar de um livro que começou a ser escrito num dia 30 de Fevereiro.
Sim, ainda é cedo para fazer uma lista com os melhores livros de 2013, mas este “O Livro do Ano” encanta, surpreende, enternece, aloja-se no nosso coração. É obrigatório ler e ter. A 1 de agosto Afonso Cruz escreveu: «Quanto mais facilidade tem uma música em entrar na cabeça, mais dificuldade tem em sair.» Também repleto de melodia, este livro entra-nos de forma imediata e fica. São gritos mudos que permanecem no nosso âmago fechados a sete chaves. Absolutamente imperdível!
In Rua de Baixo
terça-feira, 19 de março de 2013
Hurts – “Exile”
O difícil segundo disco
A moda, enquanto definição de estilo e imposição de uma tendência, é cíclica. A música, como outras artes, usa a revisitação como uma espécie de eterno retorno a um qualquer ponto de partida ou noção de novidade.
Influenciados por algumas bandas do movimento apelidado de synth-pop, onde teclados e sintetizadores assumem por completo a responsabilidade maior do som, os Hurts são um duo originário de Manchester e formado por Theo Hutchcraft (voz) e Adam Anderson (máquinas sonoras).
Depois de lançarem, em 2010, o seu álbum de estreia, “Hapiness”, que vendeu cerca de um milhão de cópias um pouco por todo o mundo, esperava-se com alguma curiosidade um segundo álbum. Se singles como “Better the Love”, “Stay”, “Wonderful Life” e “Devotion”, que contava com a colaboração de Kylie Minogue, tiveram um merecido reconhecimento por parte de um público ávido por novos projetos de tendências mais “sintéticas” e neo-românticas, eram necessários elementos que os sucedessem.
Passados três anos chegamos a “Exile”, mas o sentimento que fica é de perplexidade e dúvida. Nota-se que os Hurts tentam invadir um território mais rock, mas perdem-se a meio do percurso e talvez caminhem para um beco sem saída. Onde em “Hapiness” se vislumbrava um certo charme, em “Exile” tal é substituído por alguns excessos de pomposidade - e a ambição é inimiga da substância.
A faixa de abertura do disco, “Exile”, é, por exemplo, uma clara e perigosa aproximação a algumas das bandas referência dos Hurts. Se os primeiros instantes nos levam ao recente universo dos Muse, onde se nota uma preocupação e tendência para o formato “ao vivo”, o final de “Exile” sugere um ambiente mais Depeche Mode, com tendências insufladas.
Como primeiro single, os Hurts escolheram a segunda faixa do disco, “Miracle”, que, ainda assim, revela mais o espírito original do duo britânico. As orquestrações tornam o ambiente de certa forma épico e o drama característico das melhores composições da banda tornam facilmente uma canção formatada com o ADN dos Hurts num hino à sua medida e com um refrão cativante. Ao contrário do que se canta, não é necessário um milagre mas sim coerência de estilo.
“Sandman” é um dos momentos mais bem conseguidos de “Exile”. Com uma base bem “kraut”, os Hurts fazem uma canção simples, alicerçada num pop maquinal, onde as guitarras tímidas, ao fundo, formam um bom par com os sintetizadores. O coro “gore” que se ouve em fundo complementa, e bem, a canção.
Apesar do (dispensável) começo à claque de apoio futebolístico a fazer lembrar os Coldplay, “Blind” avança de uma forma segura e remete para alguns dos momentos mais calmos de “Hapiness” e, mais uma vez, as guitarras ameaçam o domínio da electrónica na parte final da faixa. Segue-se “Only You”, um exercício em forma de balada agridoce que se aproxima perigosamente da banalidade, salvaguardando-se a competente voz de Theo Hutchcraft.
Felizmente, “The Road”, canção inspirada no romance “Crash”, de JG Ballard, e “Cupid” surgem para abanar a letargia. Se no primeiro caso o espírito mais rude de uns Nine Inch Nails ecoa nas guitarras industriais e no ambiente mais dark, “Cupid”, a faixa mais curta do disco, é Depeche Mode bem medido com um riff elétrico que nos leva até à década de 1980. Coincidência ou não, são as guitarras que quebram a monotonia e tornam estas duas músicas em peças musicais apetecíveis.
Um dos pontos fortes dos Hurts é o seu dramatismo e esse sentimento atinge patamares interessantes em “Mercy”, uma boa canção pop, sem dúvida, a apelar ao já referido ambiente de multidões. Já “The Crow” é feita de momentos mais introspectivos, onde o tom meloso de um Chris Issack em “Wicked Game” é trazido à memória.
Já na reta final do disco chegamos a “Somebody to Die For”, uma bonita canção assente em traços épicos, onde a musicalidade de uns violinos, por exemplo, moldam ainda mais a graciosidade do momento, sendo, talvez, a canção mais próxima de “Hapiness”. Depois, “The Rope”começa com um teclado delicado que se vai perdendo para dar lugar a uma batida mais forte, para atingir um final pujante e decidido. O disco termina com “Help”, uma seta barroca apontada ao coração dos mais românticos.
Em forma de apreciação global, “Exile” não é um mau disco mas está longe de ser um grande álbum. Os Hurts continuam a fazer boas canções pop, mas não passam disso mesmo. Falta-lhes genialidade e uma capacidade autónoma para se afastarem definitivamente de diversos fantasmas. É claro que todos temos referências e gostos, mas é necessário cultivar um sentido de independência. Não basta querer fazer música a pensar em grandes voos quando ainda se tem dificuldade em equilibrar.
Alinhamento:
01.Exile
02.Miracle
03.Sandman
04.Blind
05.Only You
06.Road
07.Cupid
08.Mercy
09.The Crow
10.Somebody to Die For
11.The Rope
12.Help
Classificação do Palco: 6/10
In Palco Principal
A moda, enquanto definição de estilo e imposição de uma tendência, é cíclica. A música, como outras artes, usa a revisitação como uma espécie de eterno retorno a um qualquer ponto de partida ou noção de novidade.
Influenciados por algumas bandas do movimento apelidado de synth-pop, onde teclados e sintetizadores assumem por completo a responsabilidade maior do som, os Hurts são um duo originário de Manchester e formado por Theo Hutchcraft (voz) e Adam Anderson (máquinas sonoras).
Depois de lançarem, em 2010, o seu álbum de estreia, “Hapiness”, que vendeu cerca de um milhão de cópias um pouco por todo o mundo, esperava-se com alguma curiosidade um segundo álbum. Se singles como “Better the Love”, “Stay”, “Wonderful Life” e “Devotion”, que contava com a colaboração de Kylie Minogue, tiveram um merecido reconhecimento por parte de um público ávido por novos projetos de tendências mais “sintéticas” e neo-românticas, eram necessários elementos que os sucedessem.
Passados três anos chegamos a “Exile”, mas o sentimento que fica é de perplexidade e dúvida. Nota-se que os Hurts tentam invadir um território mais rock, mas perdem-se a meio do percurso e talvez caminhem para um beco sem saída. Onde em “Hapiness” se vislumbrava um certo charme, em “Exile” tal é substituído por alguns excessos de pomposidade - e a ambição é inimiga da substância.
A faixa de abertura do disco, “Exile”, é, por exemplo, uma clara e perigosa aproximação a algumas das bandas referência dos Hurts. Se os primeiros instantes nos levam ao recente universo dos Muse, onde se nota uma preocupação e tendência para o formato “ao vivo”, o final de “Exile” sugere um ambiente mais Depeche Mode, com tendências insufladas.
Como primeiro single, os Hurts escolheram a segunda faixa do disco, “Miracle”, que, ainda assim, revela mais o espírito original do duo britânico. As orquestrações tornam o ambiente de certa forma épico e o drama característico das melhores composições da banda tornam facilmente uma canção formatada com o ADN dos Hurts num hino à sua medida e com um refrão cativante. Ao contrário do que se canta, não é necessário um milagre mas sim coerência de estilo.
“Sandman” é um dos momentos mais bem conseguidos de “Exile”. Com uma base bem “kraut”, os Hurts fazem uma canção simples, alicerçada num pop maquinal, onde as guitarras tímidas, ao fundo, formam um bom par com os sintetizadores. O coro “gore” que se ouve em fundo complementa, e bem, a canção.
Apesar do (dispensável) começo à claque de apoio futebolístico a fazer lembrar os Coldplay, “Blind” avança de uma forma segura e remete para alguns dos momentos mais calmos de “Hapiness” e, mais uma vez, as guitarras ameaçam o domínio da electrónica na parte final da faixa. Segue-se “Only You”, um exercício em forma de balada agridoce que se aproxima perigosamente da banalidade, salvaguardando-se a competente voz de Theo Hutchcraft.
Felizmente, “The Road”, canção inspirada no romance “Crash”, de JG Ballard, e “Cupid” surgem para abanar a letargia. Se no primeiro caso o espírito mais rude de uns Nine Inch Nails ecoa nas guitarras industriais e no ambiente mais dark, “Cupid”, a faixa mais curta do disco, é Depeche Mode bem medido com um riff elétrico que nos leva até à década de 1980. Coincidência ou não, são as guitarras que quebram a monotonia e tornam estas duas músicas em peças musicais apetecíveis.
Um dos pontos fortes dos Hurts é o seu dramatismo e esse sentimento atinge patamares interessantes em “Mercy”, uma boa canção pop, sem dúvida, a apelar ao já referido ambiente de multidões. Já “The Crow” é feita de momentos mais introspectivos, onde o tom meloso de um Chris Issack em “Wicked Game” é trazido à memória.
Já na reta final do disco chegamos a “Somebody to Die For”, uma bonita canção assente em traços épicos, onde a musicalidade de uns violinos, por exemplo, moldam ainda mais a graciosidade do momento, sendo, talvez, a canção mais próxima de “Hapiness”. Depois, “The Rope”começa com um teclado delicado que se vai perdendo para dar lugar a uma batida mais forte, para atingir um final pujante e decidido. O disco termina com “Help”, uma seta barroca apontada ao coração dos mais românticos.
Em forma de apreciação global, “Exile” não é um mau disco mas está longe de ser um grande álbum. Os Hurts continuam a fazer boas canções pop, mas não passam disso mesmo. Falta-lhes genialidade e uma capacidade autónoma para se afastarem definitivamente de diversos fantasmas. É claro que todos temos referências e gostos, mas é necessário cultivar um sentido de independência. Não basta querer fazer música a pensar em grandes voos quando ainda se tem dificuldade em equilibrar.
Alinhamento:
01.Exile
02.Miracle
03.Sandman
04.Blind
05.Only You
06.Road
07.Cupid
08.Mercy
09.The Crow
10.Somebody to Die For
11.The Rope
12.Help
Classificação do Palco: 6/10
In Palco Principal
PEDRO GARCIA ROSADO
Entrevista
"Há um puritanismo de salão muito forte no nosso País e esse é um factor que leva muitos editores a considerar que este género literário “parece mal”, por ter homicídios e outros crimes, sangue derramado e actos de violência." A entrevista com o autor de “Morte com Vista para o Mar
Amante incondicional da zona envolvente das Caldas da Rainha, Pedro Garcia Rosado aponta a falta de ética como um dos pecados maiores por terras nacionais e confessa-se irritado com o desacerto ficcional de algumas séries policiais como a estilizada “CSI”. A propósito da edição do seu mais recente livro, “Morte com Vista para o Mar”, estivemos à conversa com este alfacinha que gosta de escrever histórias com personagens melancólicos e sombrios e aposta, felizmente, na escrita de policiais onde o realismo e a verosimilhança são ingredientes indispensáveis.
“Morte com Vista Para o Mar” é o teu oitavo livro e o primeiro de uma colecção que terá o trio Gabriel Ponte, Patrícia Ponte e Filomena Coutinho no centro de todas as atenções. Como surgiram estas personagens?
Na sequência da minha experiência com a série “Não Matarás”, pensei a certa altura que poderia ser mais interessante ter dois protagonistas em vez de um só e imaginei um homem e uma mulher como investigadores da PJ, que é o único órgão de polícia criminal que tem a competência de investigar homicídios. Não queria que um envolvimento romântico entre eles pudesse distrair as atenções dos leitores e comecei por imaginá-los pai e filha. A editora Ana Afonso (da 20|20, que depois publicou “Morte com Vista para o Mar”) levantou algumas dúvidas por esse relacionamento familiar poder fazer de Gabriel um homem mais velho. Pensei por isso em fazê-los ex-marido e ex-mulher, aproximando as idades. Também queria ter uma jornalista nas histórias e essa alteração do paradigma das personagens abriu de imediato as portas a uma dinâmica diferente, decorrente do relacionamento anterior entre Gabriel e Filomena, que é explicado em “Morte com Vista para o Mar”.
Gabriel Ponte, por exemplo, tem um perfil muito próximo de alguns personagens dos romances noir de autores como Raymond Chandler, Robert Wilson ou Dashiel Hammett. Qual a tua opinião sobre o ambiente dos livros dos referidos autores?
Sou um mau leitor de Chandler e de Hammett, cujas histórias nunca me entusiasmaram, talvez por estarem muito datadas. Gostei especialmente da fase “africana” de Robert Wilson (a série de quatro romances passados num País de África) e também segui com interesse as histórias da sua fase espanhola. Talvez haja pontos de contacto no tom noir das várias histórias de Wilson e, no meu caso, Gabriel Ponte é de facto um herói melancólico num ambiente sombrio, o que advirá da sua condição de quase exilado do mundo.
Nota-se que tens um conhecimento profundo das investigações policiais e do mundo que o rodeia. Sente-se que tal é condição essencial para se fazer um bom thriller policial?
O realismo e a verosimilhança são absolutamente essenciais para o bom êxito deste género literário. Por exemplo, em Portugal, é a PJ que tem por competência exclusiva a investigação de homicídios, com uma lógica organizacional específica e seria um disparate imaginar histórias que pudessem pôr os homicídios a serem investigados por outra polícia qualquer, mesmo que ficcionalmente criada para o efeito. Tenho procurado documentar-me em tudo o que escrevo, para não estar a inventar elementos irreais em histórias que devem manter-se solidamente ancoradas na realidade. É isso que me irrita, por exemplo, na série televisiva “CSI”. Não há nenhuma polícia no mundo que tenha os mesmos agentes a fazerem pesquisas forenses e a investigarem na rua, numa sucessão de casos todos eles banais. Isso destrói a base de credibilidade do tecido ficcional, por muito fogo-de-vista que tenha.
A trama de “Morte…” tem como base a corrupção, tráfico de influências e lavagem de dinheiro. Este pode ser o retrato de um “certo Portugal”?
Pode, seja porque a burocracia gera obstáculos irracionais a que muitas coisas racionais se façam, seja porque normas legais racionais impedem que se façam coisas absolutamente irracionais, e ilegais. E também acrescentarei alguma falta de ética, que é essencial para a democracia. Um presidente de um órgão autárquico não deveria ser o representante legal dos investidores num projecto imobiliário que pode gerar conflitos ou outras confusões com os seus próprios eleitores. E é isso que acontece na situação verídica em que me inspirei e também na própria história.
Um dos personagens do livro, o professor Alberto Morgado, tinha um blog que servia de órgão para divulgar suspeitas e alertar para os crimes que se passavam no negócio do futuro empreendimento turístico. Sabemos que o Pedro Garcia Rosado tem também um blog onde é muito interventivo. Terá sido ele o mote inspirador para o “O Novo Bordallo”?
Não, o blogue O das Caldas é que me inspirou. Este blogue anónimo ocupou-se com grandes pormenores de um investimento gigantesco previsto para uma zona de paisagem protegida que foi “desprotegida” por uma deliberação da Assembleia Municipal de Caldas da Rainha, que alterou o Plano Director Municipal, criando o Plano de Pormenor da Estrada Atlântica. Os investidores eram, e continuam a ser, homens sem rosto, o investimento previsto é de centenas de milhões de euros, há situações equívocas… e o bloguista morreu em Maio do ano passado. Foi um excelente, e intrigante, ponto de partida para uma história: a morte de um bloguista depois de denunciar um caso suspeito. Com o devido respeito pela memória do falecido.
Os teus livros reflectem bem a paixão que tens face às Caldas da Rainha. O que fez um alfacinha refugiar-se nas “falésias da costa atlântica”?
Eu conheci a região pela mão de um grande amigo e camarada de trabalho que em numerosas ocasiões me recebeu, e à minha família, como se fôssemos família, na sua casa de São Martinho do Porto, e fiquei fascinado pela combinação de mar e de campo que caracteriza grandes extensões da Região Oeste, de Peniche até à Nazaré, passando pela fronteira de mar do próprio concelho de Caldas da Rainha.
Comecei a vir para aqui quando ainda trabalhava em Lisboa, para uma casa que numa primeira fase foi para fins-de-semana e férias. É numa zona rural a menos de cinco minutos do mar, das falésias e de uma zona de praia, onde se ouvem três ou quatro carros durante o dia e passarinhos e outras aves durante quase o tempo todo (quando o tempo está bom), a apenas 60 minutos e cem quilómetros de Lisboa. A transferência definitiva para aqui acabou depois por ser natural. É um óptimo local para trabalhar… e para descansar!
Em 2004 publicaste “Crimes Solitários” e desde aí cimentaste uma carreira ímpar no que toca ao thriller feito em Portugal. Depois do jornalismo, da tradução e agora da escrita de livros, qual destas actividades te dá mais prazer? O Pedro Garcia Rosado é um contador de estórias?
Sim, gosto de escrever estórias. Aliás, desde muito cedo. Escrevia muito na adolescência, sobretudo histórias fantásticas e de ficção científica, e a intenção era sem dúvida essa; contar estórias, nessa altura a um reduzido público familiar. Mas também gostei de fazer jornalismo, a certa altura, numa época em que havia maiores meios e maior liberdade para fazer reportagem e investigação e trabalhar sem constrangimentos que não fossem a lei e o bom senso. Talvez fosse uma maneira de contar estórias… bem verdadeiras.
Ainda a propósito da tua anterior experiência como jornalista, achas que os media são cada vez mais a “voz do dono”? Filomena Coutinho, por exemplo, sente a pressão interna de não poder aprofundar mais uma suspeita por isso, eventualmente, prejudicar os patrocinadores do seu jornal…
Têm tendência, em alguns casos, a ser “a voz do dono”… e dos amigos, parceiros e correligionários do “dono”. O panorama da comunicação social hoje em dia é sombrio. Há notícias que não se dão e não se percebe porquê, o espírito crítico só parece manifestar-se em grupo, não há memória, não parece haver agendas próprias, distinguem-se mal os favores e as cumplicidades. A situação económica das empresas do sector e a incapacidade de renovarem a sua oferta também contribui para este estado de coisas. E mesmo uma jornalista como Filomena Coutinho, que se dedique só aos “casos de polícia”, pode deparar-se com dificuldades se quiser abordar os crimes cujos autores possam pertencer a sectores sociais e políticos mais elevados. Veremos se isso não lhe trará dissabores no futuro…
Recentemente no teu blog fazias uma pergunta pertinente: “Porque não há mais escritores de policiais em Portugal?” Já tens alguma resposta?
Há um puritanismo de salão muito forte no nosso País e esse é um factor que leva muitos editores a considerar que este género literário “parece mal”, por ter homicídios e outros crimes, sangue derramado e actos de violência. Nessa perspectiva, se publicassem thrillers estariam, sei lá, a fazer apelo ao que devem pensar que são os instintos mais baixos da sociedade… e, se calhar, de quem escreve essas histórias. Por outro lado, parece-me também que há editores e opinion makers neste sector que desconhecem a literatura policial e o seu público e preferem seguir as modas a fazer o trabalho de casa. Esta combinação é mortífera e aniquila quase todas as possibilidades de aparecerem novos autores portugueses nesta área.
Nas últimas páginas de “Morte…” temos o privilégio de ler as primeiras páginas do próximo romance da saga deste trio. Depois de “Morte na Arena” podemos esperar mais aventuras? Tens idealizado algum plano de edição?
Numa série com protagonistas fixos, que têm as suas próprias histórias de vida, é essencial ao autor ter a certeza, pelo menos em linhas gerais, do que vai acontecer a seguir. Tenho algumas ideias que serão desenvolvidas nas próximas histórias, combinando um caso autónomo em cada livro com “arcos” narrativos que envolvem os protagonistas fixos ao longo de dois ou três títulos.
In Rua de Baixo
Amante incondicional da zona envolvente das Caldas da Rainha, Pedro Garcia Rosado aponta a falta de ética como um dos pecados maiores por terras nacionais e confessa-se irritado com o desacerto ficcional de algumas séries policiais como a estilizada “CSI”. A propósito da edição do seu mais recente livro, “Morte com Vista para o Mar”, estivemos à conversa com este alfacinha que gosta de escrever histórias com personagens melancólicos e sombrios e aposta, felizmente, na escrita de policiais onde o realismo e a verosimilhança são ingredientes indispensáveis.
“Morte com Vista Para o Mar” é o teu oitavo livro e o primeiro de uma colecção que terá o trio Gabriel Ponte, Patrícia Ponte e Filomena Coutinho no centro de todas as atenções. Como surgiram estas personagens?
Na sequência da minha experiência com a série “Não Matarás”, pensei a certa altura que poderia ser mais interessante ter dois protagonistas em vez de um só e imaginei um homem e uma mulher como investigadores da PJ, que é o único órgão de polícia criminal que tem a competência de investigar homicídios. Não queria que um envolvimento romântico entre eles pudesse distrair as atenções dos leitores e comecei por imaginá-los pai e filha. A editora Ana Afonso (da 20|20, que depois publicou “Morte com Vista para o Mar”) levantou algumas dúvidas por esse relacionamento familiar poder fazer de Gabriel um homem mais velho. Pensei por isso em fazê-los ex-marido e ex-mulher, aproximando as idades. Também queria ter uma jornalista nas histórias e essa alteração do paradigma das personagens abriu de imediato as portas a uma dinâmica diferente, decorrente do relacionamento anterior entre Gabriel e Filomena, que é explicado em “Morte com Vista para o Mar”.
Gabriel Ponte, por exemplo, tem um perfil muito próximo de alguns personagens dos romances noir de autores como Raymond Chandler, Robert Wilson ou Dashiel Hammett. Qual a tua opinião sobre o ambiente dos livros dos referidos autores?
Sou um mau leitor de Chandler e de Hammett, cujas histórias nunca me entusiasmaram, talvez por estarem muito datadas. Gostei especialmente da fase “africana” de Robert Wilson (a série de quatro romances passados num País de África) e também segui com interesse as histórias da sua fase espanhola. Talvez haja pontos de contacto no tom noir das várias histórias de Wilson e, no meu caso, Gabriel Ponte é de facto um herói melancólico num ambiente sombrio, o que advirá da sua condição de quase exilado do mundo.
Nota-se que tens um conhecimento profundo das investigações policiais e do mundo que o rodeia. Sente-se que tal é condição essencial para se fazer um bom thriller policial?
O realismo e a verosimilhança são absolutamente essenciais para o bom êxito deste género literário. Por exemplo, em Portugal, é a PJ que tem por competência exclusiva a investigação de homicídios, com uma lógica organizacional específica e seria um disparate imaginar histórias que pudessem pôr os homicídios a serem investigados por outra polícia qualquer, mesmo que ficcionalmente criada para o efeito. Tenho procurado documentar-me em tudo o que escrevo, para não estar a inventar elementos irreais em histórias que devem manter-se solidamente ancoradas na realidade. É isso que me irrita, por exemplo, na série televisiva “CSI”. Não há nenhuma polícia no mundo que tenha os mesmos agentes a fazerem pesquisas forenses e a investigarem na rua, numa sucessão de casos todos eles banais. Isso destrói a base de credibilidade do tecido ficcional, por muito fogo-de-vista que tenha.
A trama de “Morte…” tem como base a corrupção, tráfico de influências e lavagem de dinheiro. Este pode ser o retrato de um “certo Portugal”?
Pode, seja porque a burocracia gera obstáculos irracionais a que muitas coisas racionais se façam, seja porque normas legais racionais impedem que se façam coisas absolutamente irracionais, e ilegais. E também acrescentarei alguma falta de ética, que é essencial para a democracia. Um presidente de um órgão autárquico não deveria ser o representante legal dos investidores num projecto imobiliário que pode gerar conflitos ou outras confusões com os seus próprios eleitores. E é isso que acontece na situação verídica em que me inspirei e também na própria história.
Um dos personagens do livro, o professor Alberto Morgado, tinha um blog que servia de órgão para divulgar suspeitas e alertar para os crimes que se passavam no negócio do futuro empreendimento turístico. Sabemos que o Pedro Garcia Rosado tem também um blog onde é muito interventivo. Terá sido ele o mote inspirador para o “O Novo Bordallo”?
Não, o blogue O das Caldas é que me inspirou. Este blogue anónimo ocupou-se com grandes pormenores de um investimento gigantesco previsto para uma zona de paisagem protegida que foi “desprotegida” por uma deliberação da Assembleia Municipal de Caldas da Rainha, que alterou o Plano Director Municipal, criando o Plano de Pormenor da Estrada Atlântica. Os investidores eram, e continuam a ser, homens sem rosto, o investimento previsto é de centenas de milhões de euros, há situações equívocas… e o bloguista morreu em Maio do ano passado. Foi um excelente, e intrigante, ponto de partida para uma história: a morte de um bloguista depois de denunciar um caso suspeito. Com o devido respeito pela memória do falecido.
Os teus livros reflectem bem a paixão que tens face às Caldas da Rainha. O que fez um alfacinha refugiar-se nas “falésias da costa atlântica”?
Eu conheci a região pela mão de um grande amigo e camarada de trabalho que em numerosas ocasiões me recebeu, e à minha família, como se fôssemos família, na sua casa de São Martinho do Porto, e fiquei fascinado pela combinação de mar e de campo que caracteriza grandes extensões da Região Oeste, de Peniche até à Nazaré, passando pela fronteira de mar do próprio concelho de Caldas da Rainha.
Comecei a vir para aqui quando ainda trabalhava em Lisboa, para uma casa que numa primeira fase foi para fins-de-semana e férias. É numa zona rural a menos de cinco minutos do mar, das falésias e de uma zona de praia, onde se ouvem três ou quatro carros durante o dia e passarinhos e outras aves durante quase o tempo todo (quando o tempo está bom), a apenas 60 minutos e cem quilómetros de Lisboa. A transferência definitiva para aqui acabou depois por ser natural. É um óptimo local para trabalhar… e para descansar!
Em 2004 publicaste “Crimes Solitários” e desde aí cimentaste uma carreira ímpar no que toca ao thriller feito em Portugal. Depois do jornalismo, da tradução e agora da escrita de livros, qual destas actividades te dá mais prazer? O Pedro Garcia Rosado é um contador de estórias?
Sim, gosto de escrever estórias. Aliás, desde muito cedo. Escrevia muito na adolescência, sobretudo histórias fantásticas e de ficção científica, e a intenção era sem dúvida essa; contar estórias, nessa altura a um reduzido público familiar. Mas também gostei de fazer jornalismo, a certa altura, numa época em que havia maiores meios e maior liberdade para fazer reportagem e investigação e trabalhar sem constrangimentos que não fossem a lei e o bom senso. Talvez fosse uma maneira de contar estórias… bem verdadeiras.
Ainda a propósito da tua anterior experiência como jornalista, achas que os media são cada vez mais a “voz do dono”? Filomena Coutinho, por exemplo, sente a pressão interna de não poder aprofundar mais uma suspeita por isso, eventualmente, prejudicar os patrocinadores do seu jornal…
Têm tendência, em alguns casos, a ser “a voz do dono”… e dos amigos, parceiros e correligionários do “dono”. O panorama da comunicação social hoje em dia é sombrio. Há notícias que não se dão e não se percebe porquê, o espírito crítico só parece manifestar-se em grupo, não há memória, não parece haver agendas próprias, distinguem-se mal os favores e as cumplicidades. A situação económica das empresas do sector e a incapacidade de renovarem a sua oferta também contribui para este estado de coisas. E mesmo uma jornalista como Filomena Coutinho, que se dedique só aos “casos de polícia”, pode deparar-se com dificuldades se quiser abordar os crimes cujos autores possam pertencer a sectores sociais e políticos mais elevados. Veremos se isso não lhe trará dissabores no futuro…
Recentemente no teu blog fazias uma pergunta pertinente: “Porque não há mais escritores de policiais em Portugal?” Já tens alguma resposta?
Há um puritanismo de salão muito forte no nosso País e esse é um factor que leva muitos editores a considerar que este género literário “parece mal”, por ter homicídios e outros crimes, sangue derramado e actos de violência. Nessa perspectiva, se publicassem thrillers estariam, sei lá, a fazer apelo ao que devem pensar que são os instintos mais baixos da sociedade… e, se calhar, de quem escreve essas histórias. Por outro lado, parece-me também que há editores e opinion makers neste sector que desconhecem a literatura policial e o seu público e preferem seguir as modas a fazer o trabalho de casa. Esta combinação é mortífera e aniquila quase todas as possibilidades de aparecerem novos autores portugueses nesta área.
Nas últimas páginas de “Morte…” temos o privilégio de ler as primeiras páginas do próximo romance da saga deste trio. Depois de “Morte na Arena” podemos esperar mais aventuras? Tens idealizado algum plano de edição?
Numa série com protagonistas fixos, que têm as suas próprias histórias de vida, é essencial ao autor ter a certeza, pelo menos em linhas gerais, do que vai acontecer a seguir. Tenho algumas ideias que serão desenvolvidas nas próximas histórias, combinando um caso autónomo em cada livro com “arcos” narrativos que envolvem os protagonistas fixos ao longo de dois ou três títulos.
In Rua de Baixo
sexta-feira, 15 de março de 2013
DAVID BOWIE
“THE NEXT DAY”
A nova vida do camaleão
No dia 8 de Janeiro deste ano, data que marcou mais um aniversário de David Bowie, o cantor britânico surpreendeu os fãs com uma prenda especial: a apresentação de «Where Are We Now?», primeiro single de “The Next Day”, o novíssimo e inesperado álbum.
Aos 66 anos, o “camaleão” continua a ser uma das mais irreverentes personagens do planeta pop/rock e, felizmente, ainda se sente capaz de se dedicar à arte de fazer (boa) música.
Quem também ficou boquiaberto quando recebeu um telefonema de Bowie foi o produtor Tony Visconti – responsável pelo som de discos como “Low” (1977), “Heroes” (1977) e “Lodger” (1979), que ficariam conhecidos com a Trilogia de Berlim. A proposta era a elaboração de umas maquetas.
Esse contacto seria a génese de “The Next Day”, um disco feito de forma informal e despreocupada mas envolto de um secretismo absoluto que, como se viria a provar, seria um dos alicerces do seu sucesso. Numa época em que a internet tem o condão de destruir muitas surpresas, o sabor deste disco revela-se ainda mais doce.
Bowie, especialista na arte de se transformar e reinventar, tinha deixado no ar, principalmente depois de ter sentido na pele o infortúnio de um problema coronário em 2004, a intenção de colocar um ponto final na carreira enquanto músico. A intensidade que dedicara à performance rock durante várias décadas e os muitos excessos que essa vida pode levar a tentar, serviam de “desculpa” para uma reforma antecipada.
A isso se juntaria o insucesso dos últimos dois trabalhos de Bowie. “Heaten” (2002) e “Reality” (2003) foram duas experiências menos felizes e mostravam-se pouco imaginativos. Se para muitos artistas estes dois discos poderiam ser sinónimo de um “bom trabalho”, para o homem que já encarnou Ziggy Stardust e fez-nos viajar por, e para, Marte, revelavam-se exercícios pouco inspirados. O fim adivinhava-se. Mais, o cantor de “Sound and Vision” anunciou mesmo que não voltaria a pisar o palco.
Mas de Bowie tudo, ou quase, é possível. Contra todas as expectativas, “The Next Day” surge em 2013 como um “disco voador”, um conjunto de canções repletas de bom rock. A imprensa internacional não tem qualquer tipo de dúvida em afirmar que estamos perante um dos melhores discos da carreira de David Bowie. Esta euforia inflamada tem, dizemos nós, muito a ver com o factor surpresa com que este lançamento se afirmou, com a sede de bons discos de Bowie e, essencialmente, por culpa da sustentabilidade e mestria da própria música fragmentada por parte da história discográfica do autor de “Space Oddity”.
É impossível negar, por exemplo, a clara influência da estética dos tempos berlinenses em “The Next Day”. Se a balada certeira que é «Where We Are Now?» faz referência directa à cidade alemã, também a capa do disco é um remake de “Heroes”. Será que Bowie levou uma década a fazer uma revisão de toda a sua brilhante carreira para chegar até ao disco agora lançado? A resposta poderia bem ser parte do refrão de «The Next Day»: “Here I am, not quite dying…”.
Mas onde está a música de Bowie hoje? O que podemos esperar de “The Next Day”? Visconti tem por hábito referir nas entrevistas que concede a propósito deste novo disco que David Bowie tinha várias preocupações em mente, a maior das quais em fazer um disco descaradamente rock. Depois de uma primeira audição as dúvidas ficam desfeitas e temos a certeza de que o camaleão pode dormir descansado.
O ambiente de “The Next Day” está despojado de grandes truques musicais e é basicamente recheado pelos ingredientes que fazem a melhor receita rock: bateria forte, um baixo fluído e presente, guitarras descarnadas, suaves camadas de teclados e alguns metais. Quem sabe, nunca esquece.
A veia mais “dura” e orelhuda encontra o expoente máximo em «The Stars (Are Out Tonight)», talvez um dos mais prováveis hits radiofónicos deste disco e, sem dúvida, uma das melhores canções do álbum onde o groove está à solta e cola-se aos nossos ouvidos. As guitarras usadas em «(You Will) Set the World on Fire» proporcionam outro momento rock descarado, aqui com as memórias dos Kinks bem presentes.
A primeira música do disco, «The Next Day», é outro exemplo dessa vitalidade roqueira. A voz de Bowie continua igual a si própria apesar das cordas vocais já terem passado por 66 Primaveras. As guitarras arranham, os metais dizem presente e a bateria e o baixo falam entre si. Um começo prometedor.
À medida que vamos explorando o disco somos confrontados por algumas das mais conhecidas personagens a que David Bowie deu voz e corpo. Se «Dirty Boys» e «Boss of Me», por exemplo, levam-nos até aos tempos de “Station to Station” (1976) onde o saxofone assombrado destila soul envolta de um doce veneno resultante do universo de Thin White Duke, a viciante e dramática «Love is Lost» remete-nos para laivos góticos típicos de alguns trabalhos de Bowie durante a década de 1980. Aqui a guitarra é azedume e o diálogo entre órgão e baixo tornam estes quase quatro minutos em momentos fatalistas com Bowie, incrédulo, a perguntar: “Oh, What have you done?”.
Já «If You Can See Me» e «Dancing Out In Space» fazem a ponte entre Berlim e “Let’s Dance” (1983), reflectindo um pouco também do ambiente jazzy com muita bateria de “Earthling” (1997). Num registo mais glam, «Valentine’s Day» é Ziggy Stardust até à medula. Os coros “sha-la-la” e a guitarra sem rede fazem-nos “recuar” até ao início da década de 1970.
«I’d Rather Be High» é outro dos exemplos onde é a linha da guitarra que tem a responsabilidade de sustentar todo o corpo da canção. Tarefa semelhante é conferida ao órgão em «How The Grass Grow», faixa onde somos remetidos para um dos hinos dos The Shadows, «Apache», com Bowie perto do falsete por alturas do refrão.
Os últimos momentos do disco apontam para uma atmosfera mais melancólica e melodramática com evocações épicas. «You Feel So Lonely You Could Die» afigura-se como uma ode ao desespero e «Heat», a última faixa de “The Next Day”, revela um Bowie travestido de Scott Walker apoiado em guitarras acústicas e em busca de um caminho, de uma identidade. “And I tell myself, I don’t know who I am”…
Culpas, vergonhas e medos à parte, “The Next Day” é um excelente disco. Para o assegurar, como na maior parte das vezes, David Bowie soube rodear-se de excelentes músicos e um produtor acima de todas as suspeitas. A guitarra de Gerry Leonard, o baixo de Gail Dorsey, a bateria de Zachary Alford, assim como as contribuições eléctricas dos mestres Earl Sick e David Torn dão músculo e coesão às 14 músicas do disco (17 na versão deluxe) e podem deixar orgulhoso o senhor David Robert Jones.
In Rua de Baixo
No dia 8 de Janeiro deste ano, data que marcou mais um aniversário de David Bowie, o cantor britânico surpreendeu os fãs com uma prenda especial: a apresentação de «Where Are We Now?», primeiro single de “The Next Day”, o novíssimo e inesperado álbum.
Aos 66 anos, o “camaleão” continua a ser uma das mais irreverentes personagens do planeta pop/rock e, felizmente, ainda se sente capaz de se dedicar à arte de fazer (boa) música.
Quem também ficou boquiaberto quando recebeu um telefonema de Bowie foi o produtor Tony Visconti – responsável pelo som de discos como “Low” (1977), “Heroes” (1977) e “Lodger” (1979), que ficariam conhecidos com a Trilogia de Berlim. A proposta era a elaboração de umas maquetas.
Esse contacto seria a génese de “The Next Day”, um disco feito de forma informal e despreocupada mas envolto de um secretismo absoluto que, como se viria a provar, seria um dos alicerces do seu sucesso. Numa época em que a internet tem o condão de destruir muitas surpresas, o sabor deste disco revela-se ainda mais doce.
Bowie, especialista na arte de se transformar e reinventar, tinha deixado no ar, principalmente depois de ter sentido na pele o infortúnio de um problema coronário em 2004, a intenção de colocar um ponto final na carreira enquanto músico. A intensidade que dedicara à performance rock durante várias décadas e os muitos excessos que essa vida pode levar a tentar, serviam de “desculpa” para uma reforma antecipada.
A isso se juntaria o insucesso dos últimos dois trabalhos de Bowie. “Heaten” (2002) e “Reality” (2003) foram duas experiências menos felizes e mostravam-se pouco imaginativos. Se para muitos artistas estes dois discos poderiam ser sinónimo de um “bom trabalho”, para o homem que já encarnou Ziggy Stardust e fez-nos viajar por, e para, Marte, revelavam-se exercícios pouco inspirados. O fim adivinhava-se. Mais, o cantor de “Sound and Vision” anunciou mesmo que não voltaria a pisar o palco.
Mas de Bowie tudo, ou quase, é possível. Contra todas as expectativas, “The Next Day” surge em 2013 como um “disco voador”, um conjunto de canções repletas de bom rock. A imprensa internacional não tem qualquer tipo de dúvida em afirmar que estamos perante um dos melhores discos da carreira de David Bowie. Esta euforia inflamada tem, dizemos nós, muito a ver com o factor surpresa com que este lançamento se afirmou, com a sede de bons discos de Bowie e, essencialmente, por culpa da sustentabilidade e mestria da própria música fragmentada por parte da história discográfica do autor de “Space Oddity”.
É impossível negar, por exemplo, a clara influência da estética dos tempos berlinenses em “The Next Day”. Se a balada certeira que é «Where We Are Now?» faz referência directa à cidade alemã, também a capa do disco é um remake de “Heroes”. Será que Bowie levou uma década a fazer uma revisão de toda a sua brilhante carreira para chegar até ao disco agora lançado? A resposta poderia bem ser parte do refrão de «The Next Day»: “Here I am, not quite dying…”.
Mas onde está a música de Bowie hoje? O que podemos esperar de “The Next Day”? Visconti tem por hábito referir nas entrevistas que concede a propósito deste novo disco que David Bowie tinha várias preocupações em mente, a maior das quais em fazer um disco descaradamente rock. Depois de uma primeira audição as dúvidas ficam desfeitas e temos a certeza de que o camaleão pode dormir descansado.
O ambiente de “The Next Day” está despojado de grandes truques musicais e é basicamente recheado pelos ingredientes que fazem a melhor receita rock: bateria forte, um baixo fluído e presente, guitarras descarnadas, suaves camadas de teclados e alguns metais. Quem sabe, nunca esquece.
A veia mais “dura” e orelhuda encontra o expoente máximo em «The Stars (Are Out Tonight)», talvez um dos mais prováveis hits radiofónicos deste disco e, sem dúvida, uma das melhores canções do álbum onde o groove está à solta e cola-se aos nossos ouvidos. As guitarras usadas em «(You Will) Set the World on Fire» proporcionam outro momento rock descarado, aqui com as memórias dos Kinks bem presentes.
A primeira música do disco, «The Next Day», é outro exemplo dessa vitalidade roqueira. A voz de Bowie continua igual a si própria apesar das cordas vocais já terem passado por 66 Primaveras. As guitarras arranham, os metais dizem presente e a bateria e o baixo falam entre si. Um começo prometedor.
À medida que vamos explorando o disco somos confrontados por algumas das mais conhecidas personagens a que David Bowie deu voz e corpo. Se «Dirty Boys» e «Boss of Me», por exemplo, levam-nos até aos tempos de “Station to Station” (1976) onde o saxofone assombrado destila soul envolta de um doce veneno resultante do universo de Thin White Duke, a viciante e dramática «Love is Lost» remete-nos para laivos góticos típicos de alguns trabalhos de Bowie durante a década de 1980. Aqui a guitarra é azedume e o diálogo entre órgão e baixo tornam estes quase quatro minutos em momentos fatalistas com Bowie, incrédulo, a perguntar: “Oh, What have you done?”.
Já «If You Can See Me» e «Dancing Out In Space» fazem a ponte entre Berlim e “Let’s Dance” (1983), reflectindo um pouco também do ambiente jazzy com muita bateria de “Earthling” (1997). Num registo mais glam, «Valentine’s Day» é Ziggy Stardust até à medula. Os coros “sha-la-la” e a guitarra sem rede fazem-nos “recuar” até ao início da década de 1970.
«I’d Rather Be High» é outro dos exemplos onde é a linha da guitarra que tem a responsabilidade de sustentar todo o corpo da canção. Tarefa semelhante é conferida ao órgão em «How The Grass Grow», faixa onde somos remetidos para um dos hinos dos The Shadows, «Apache», com Bowie perto do falsete por alturas do refrão.
Os últimos momentos do disco apontam para uma atmosfera mais melancólica e melodramática com evocações épicas. «You Feel So Lonely You Could Die» afigura-se como uma ode ao desespero e «Heat», a última faixa de “The Next Day”, revela um Bowie travestido de Scott Walker apoiado em guitarras acústicas e em busca de um caminho, de uma identidade. “And I tell myself, I don’t know who I am”…
Culpas, vergonhas e medos à parte, “The Next Day” é um excelente disco. Para o assegurar, como na maior parte das vezes, David Bowie soube rodear-se de excelentes músicos e um produtor acima de todas as suspeitas. A guitarra de Gerry Leonard, o baixo de Gail Dorsey, a bateria de Zachary Alford, assim como as contribuições eléctricas dos mestres Earl Sick e David Torn dão músculo e coesão às 14 músicas do disco (17 na versão deluxe) e podem deixar orgulhoso o senhor David Robert Jones.
In Rua de Baixo
terça-feira, 12 de março de 2013
Sigur Rós – "Valtari Film Experiment"
Sonhos sem amarras
Quem já assistiu a um concerto dos islandeses Sigur Rós, tem noção de ter vivido uma experiência que deixa todos os sentidos alerta para as descargas emocionais que emanam a cada composição musical da responsabilidade de Jónsi e companheiros.
A magia do mundo criado pelos Sigur Rós tem um imaginário interpretativo ímpar e as sensações que a música proporciona podem originar reacções individuais muito particulares. Uma das melhores formas de tentar explicar a arte dos autores de álbuns como “Agatis byrjun” ou “Takk” remete-nos para o onírico, para um sonho feito à base de uma sustentabilidade sonora que tem nos acordes ambientais, minimalistas e post-rock os seus principais alicerces.
Cientes que a imagem é uma das características mais fortes da banda, os Sigur Rós apostam muito nos clips vídeo que se assemelham a curtas-metragens, onde a beleza entra pelos nossos olhos adentro. Exemplo disso foi “Heima”, duplo DVD lançado em 2007 e premiado no Festival Internacional de Cinema de Reiquiavique, que serviu para documentar a digressão por terras islandesas em 2006 e reforçou a ideia que a banda islandesa é, de facto, um dos fenómenos musicais mais interessantes das últimas décadas.
Com a recente edição de “Valtari”, álbum que deu o mote para a digressão que passou recentemente por Lisboa e Porto, os Sigur Rós desafiaram alguns realizadores a fazerem vídeos que representassem uma visão individual e particular das músicas da nova aventura sonora da banda, e não um comum “teledisco”.
Com um orçamento reduzido atribuído a cada realizador (cerca de 7,5 mil euros), foram produzidas 14 das 16 peças visuais que compõem este “Valtari Film Experiment”, lançado pela EMI - um exercício visual que serve para entender melhor o estímulo pavloviano que resulta da audição de “Valtari”.
Também os fãs foram convidados a participar neste projeto e a banda recebeu mais de oito centenas de pequenos filmes, entre os quais alguns portugueses, que se mexiam por universos onde a beleza, o caos, o absurdo e a comédia eram ingredientes. Como prémio, dois deles viram os seus trabalhos incluídos neste DVD (“Fjogur Píanó”, de Anafelle Liu, Diu Lau e Ken Ngan, e “Daudlogn”, de Ruslan Fedotow).
Em termos de destaques, os cerca de dez minutos épicos criados por Florida Sigismondi para “Learning Towards Solance”, que conta com o protagonismo dos atores Elle Faning e John Hawkes, a par dos filmes de Ramin Baharini em “Ég Anda” e John Cameron Mitchell para “Seraph”, figuram como algumas experiências a não perder.
Muitos dos vídeos foram colocados a “conta-gotas” no site oficial dos Sigur Rós, mas agora já é possível ter esses documentos reunidos em formato DVD, objeto que, por certo, irá ocupar um lugar especial no coração dos seguidores, e não só, da banda islandesa.
Mais que uma reunião de vídeos, as cerca de duas horas e meia de música que estão patentes em “Valtari Film Experiment” servem para, acima de tudo, afirmar a genialidade do reportório dos Sigur Rós e sentir o seu efeito sobre nós, comuns mortais. Como extra, temos ainda direito a ver o making of de três vídeos.
Alinhamento:
1.Varúð (Inga Birgisdóttir)
2.Valtari (Christian Larson)
3.Ég anda (Ragnar Kjartansson)
4.Ekki múkk (Nick Abrahams)
5.Varðeldur (Clare Langan)
6.Leaning Towards Solace (Floria Sigismondi)
7.Seraph (Dash Shaw / John Cameron Mitchell)
8.Dauðalogn (Ruslan Fedotow)
9.Rembihnútur (Arni & Kinski)
10.Fjögur píanó (Alma Har'el)
11.Ég anda (Ramin Bahrani)
12.Varðeldur (Melika Bass)
13.Varúð (Bjorn Floki)
14.Dauðalogn (Henry J W Lee)
15.Fjögur píanó (Anafelle Liu, Dio Lau and Ken Ngan)
16.Varúð (Ryan McGinley)
Classificação do Palco: 9/10
In Palco Principal
Quem já assistiu a um concerto dos islandeses Sigur Rós, tem noção de ter vivido uma experiência que deixa todos os sentidos alerta para as descargas emocionais que emanam a cada composição musical da responsabilidade de Jónsi e companheiros.
A magia do mundo criado pelos Sigur Rós tem um imaginário interpretativo ímpar e as sensações que a música proporciona podem originar reacções individuais muito particulares. Uma das melhores formas de tentar explicar a arte dos autores de álbuns como “Agatis byrjun” ou “Takk” remete-nos para o onírico, para um sonho feito à base de uma sustentabilidade sonora que tem nos acordes ambientais, minimalistas e post-rock os seus principais alicerces.
Cientes que a imagem é uma das características mais fortes da banda, os Sigur Rós apostam muito nos clips vídeo que se assemelham a curtas-metragens, onde a beleza entra pelos nossos olhos adentro. Exemplo disso foi “Heima”, duplo DVD lançado em 2007 e premiado no Festival Internacional de Cinema de Reiquiavique, que serviu para documentar a digressão por terras islandesas em 2006 e reforçou a ideia que a banda islandesa é, de facto, um dos fenómenos musicais mais interessantes das últimas décadas.
Com a recente edição de “Valtari”, álbum que deu o mote para a digressão que passou recentemente por Lisboa e Porto, os Sigur Rós desafiaram alguns realizadores a fazerem vídeos que representassem uma visão individual e particular das músicas da nova aventura sonora da banda, e não um comum “teledisco”.
Com um orçamento reduzido atribuído a cada realizador (cerca de 7,5 mil euros), foram produzidas 14 das 16 peças visuais que compõem este “Valtari Film Experiment”, lançado pela EMI - um exercício visual que serve para entender melhor o estímulo pavloviano que resulta da audição de “Valtari”.
Também os fãs foram convidados a participar neste projeto e a banda recebeu mais de oito centenas de pequenos filmes, entre os quais alguns portugueses, que se mexiam por universos onde a beleza, o caos, o absurdo e a comédia eram ingredientes. Como prémio, dois deles viram os seus trabalhos incluídos neste DVD (“Fjogur Píanó”, de Anafelle Liu, Diu Lau e Ken Ngan, e “Daudlogn”, de Ruslan Fedotow).
Em termos de destaques, os cerca de dez minutos épicos criados por Florida Sigismondi para “Learning Towards Solance”, que conta com o protagonismo dos atores Elle Faning e John Hawkes, a par dos filmes de Ramin Baharini em “Ég Anda” e John Cameron Mitchell para “Seraph”, figuram como algumas experiências a não perder.
Muitos dos vídeos foram colocados a “conta-gotas” no site oficial dos Sigur Rós, mas agora já é possível ter esses documentos reunidos em formato DVD, objeto que, por certo, irá ocupar um lugar especial no coração dos seguidores, e não só, da banda islandesa.
Mais que uma reunião de vídeos, as cerca de duas horas e meia de música que estão patentes em “Valtari Film Experiment” servem para, acima de tudo, afirmar a genialidade do reportório dos Sigur Rós e sentir o seu efeito sobre nós, comuns mortais. Como extra, temos ainda direito a ver o making of de três vídeos.
Alinhamento:
1.Varúð (Inga Birgisdóttir)
2.Valtari (Christian Larson)
3.Ég anda (Ragnar Kjartansson)
4.Ekki múkk (Nick Abrahams)
5.Varðeldur (Clare Langan)
6.Leaning Towards Solace (Floria Sigismondi)
7.Seraph (Dash Shaw / John Cameron Mitchell)
8.Dauðalogn (Ruslan Fedotow)
9.Rembihnútur (Arni & Kinski)
10.Fjögur píanó (Alma Har'el)
11.Ég anda (Ramin Bahrani)
12.Varðeldur (Melika Bass)
13.Varúð (Bjorn Floki)
14.Dauðalogn (Henry J W Lee)
15.Fjögur píanó (Anafelle Liu, Dio Lau and Ken Ngan)
16.Varúð (Ryan McGinley)
Classificação do Palco: 9/10
In Palco Principal
Rodrigo Leão
@ CCB
A paixão segundo Rodrigo Leão
Foi um Centro Cultural de Belém esgotado que assistiu a mais um excelente concerto de Rodrigo Leão e companheiros de estrada, na última sexta-feira. O espetáculo teve como fio condutor “A Montanha Mágica”, álbum de 2011, mas a incursão a “Songs (2004/2012)”, bem como a outros momentos da carreira do talentoso e prolífero compositor, deram corpo a um concerto que proporcionou perto de duas horas de muita paixão.
Foi com a toada calma e cintilante de “Praia do Norte”. de “A Montanha Mágica”. que seria iniciado o concerto. A mestria de Rodrigo Leão e seus pares levam a sua música a lugares perto da beleza e perfeição. Das mãos de Rodrigo Leão saem acordes fruto de uma matemática musical ímpar, que servem de batuta aos sons que os acompanham. “Mar Estranho” e “Navio Farol”, também do referido trabalho de 2011, deram continuidade ao ambiente neoclássico que se vivia no Grande Auditório do CCB, talvez a sala que mais tenha a ver com a música de Leão.
Outro dos «truques» de Rodrigo Leão para que a sua arte resulte na plenitude é a escolha certa dos seus camaradas de palco. A mestria de Celina da Piedade no acordeão (e xilofone) é exemplo dessa competência e é impossível resistir ao “swing” desta mulher que, para além disso, detém uma voz maravilhosa - mas lá chegaremos…
A primeira experiência fora do reportório de Rodrigo Leão em nome próprio foi com “Tardes de Bolonha”, um magnífico instrumental dos tempos de “Existir”, um dos álbuns charneira dos saudosos Madredeus. Muito aplaudida, esta performance fez lembrar a potência que a música «frágil» de um projeto com a musicalidade da antiga banda de Pedro Ayres de Magalhães e Teresa Salgueiro pode possuir ao vivo.
Absolutamente brilhante. “Espiral II”, de “Ave Mundi Luminar” (1993), fez a audiência recuar no tempo e sentir o sabor dos primeiros tempos de Rodrigo Leão a solo. O excelente jogo sonoro proporcionado pela simbiose entre cordas, teclas e acordeão fazia notar que em palco se tocava com amor, vontade e saber.
A primeira dedicatória da noite surgiu aquando da apresentação de “Tango dos Malandros”, que Rodrigo fez questão de servir como presente a todos os malandros de Portugal, em especial a Gabriel Gomes, companheiro de Leão nos “Poetas”. “Os Cidadãos”, de “Portugal, um Retrato Social” (2007), que foi parte integrante de banda sonora de uma série passada pela televisão estatal nacional há alguns anos, foi a música seguinte e a grande intensidade dramática com que foi apresentada ao público valeu-lhe o título de uma das melhores prestações da noite, onde o devaneio onírico foi uma constante.
O andamento alegre de “La Fête” foi a primeira aproximação a “Cinema” (2004), um dos álbuns que marcou a música portuguesa na primeira década do século XXI. O palco, por momentos, transformou-se num salão de baile onde a valsa era o ritmo ouvido. O som redopia em cada instrumento e vem direito ao nosso coração.
Tal como tinha sido anunciado, Rodrigo Leão tinha preparado algumas surpresas para estes novos espetáculos e a participação de alguns convidados era esperada. A honra coube a Elisa Rodrigues, que deu voz a dois dos mais emblemáticos temas de Rodrigo Leão. Para a acompanhar chegariam ao palco Fred Garcês para a bateria, e João Eleutério para a guitarra. A partir daí, o baixo passaria de mão, entre Leão e Eleutério.
As maravilhosas “The Long Run”, de “Songs…”, e “Lonely Carousel”, retirada do aplaudido “Cinema”, originalmente cantadas por Joan as Policewomam e Beth Gibbons, voz dos Portishead, foram, talvez, os momentos menos conseguidos de todo o concerto, não por culpa da voz competente de Elisa Rodrigues, mas porque os registos particulares das já referidas cantoras são insubstituíveis.
Ainda com Rodrigo Leão no baixo, ouviram-se mais dois temas de “A Montanha Mágica”. “Revolta” e “Aviões de Papel” serviram para nos devolver ao ambiente neoclássico e instrumental bem alimentado pela versatilidade dos músicos. Ao português Gomo coube a (árdua) tarefa de cantar outra canção do reportório de Rodrigo Leão, originalmente gravada com uma outra das vozes mais marcantes da música britânica, Niel Hannon, líder dos Divine Comedy. De uma forma irrepreensível, ouvimos “Cathy” ser cantada e dedicada a todas as mulheres nesta noite especial de 8 de março e os muitos e merecidos aplausos ouvidos no final foram consequência de uma excelente prestação.
A noite estava de facto a ser muito agradável, tal como Rodrigo Leão desejou no início do espetáculo, mas a temperatura e intensidade iriam aumentar com a presença de Scott Matthew. Com uma voz fabulosa, o cantor australiano brindou os presentes com quatro momentos de rara beleza. “In the End”, “Terrible Dawn”, “Incomplete” e “Hapiness” por si só valeriam a presença no CCB e abrilhantaram ainda mais a noite.
Antes da saída do palco ainda se ouviu “Hibernauta” e “A Comédia de Deus”. Se na música retirada de “A Montanha Mágica” a sala sentiu o espectro de um tango, no caso da faixa de “Cinema” foi o ambiente de fanfarra que saiu do palco e abraçou todos os presentes.
O regresso ao palco fez brilhar mais uma estrela. Com duas performances perfeitas, sem aspas, Celina da Piedade entregou alma e coração a “Alfama”, dos Madredeus, e “Pasión” que originalmente conta com a voz de Lula Pena e faz parte do álbum homónimo. O público, conhecedor das canções, deu uma ajuda e, a espaços, sentia-se um coro em toda a sala.
Com o público teimosamente a permanecer na sala a aplaudir os artistas ausentes do palco, foi com naturalidade com que ainda se assistiu a mais duas peças de puro brilhantismo, novamente com grande responsabilidade para a voz e genialidade de Scott Matthew. Só com a guitarra, o ex-vocalista dos Elva Snow tocou uma versão magnífica de “Smile”, saída do imaginário de Charlie Chaplin. Ainda extasiados com a performance de Matthew, os presentes tiveram também direito a ouvir “Enemies”, uma nova música que resulta da colaboração entre o vocalista e Rodrigo Leão. A noite acabaria assim, com o público a aplaudir de pé e com os “bravos” a ouvirem-se amiúde.
Antes da apresentação de Rodrigo Leão per si, foram os “Poetas” - que lançaram recentemente “Autografia” - a ocupar o palco, para apresentar a sua música que é, no fundo, a extensão da própria poesia. Com a marca inconfundível de Leão dos teclados, os Poetas contam com Gabriel Gomes no acordeão, Viviana Tupikova no violino, Sandra Martins no clarinete e violoncelo e ainda com o ator Miguel Borges nas vocalizações. Durante a meia hora que o coletivo esteve em palco ouviram-se temas como “We Are Welcome to Elsinor”, “O Navio de Espelhos”, “Poema”, “História de Cão” e “Há Uma Hora”, de Mário Cesariny, alguns deles interpretados pela voz, ora doce ora cavernosa, de Miguel Borges.
In Palco Principal
Foi um Centro Cultural de Belém esgotado que assistiu a mais um excelente concerto de Rodrigo Leão e companheiros de estrada, na última sexta-feira. O espetáculo teve como fio condutor “A Montanha Mágica”, álbum de 2011, mas a incursão a “Songs (2004/2012)”, bem como a outros momentos da carreira do talentoso e prolífero compositor, deram corpo a um concerto que proporcionou perto de duas horas de muita paixão.
Foi com a toada calma e cintilante de “Praia do Norte”. de “A Montanha Mágica”. que seria iniciado o concerto. A mestria de Rodrigo Leão e seus pares levam a sua música a lugares perto da beleza e perfeição. Das mãos de Rodrigo Leão saem acordes fruto de uma matemática musical ímpar, que servem de batuta aos sons que os acompanham. “Mar Estranho” e “Navio Farol”, também do referido trabalho de 2011, deram continuidade ao ambiente neoclássico que se vivia no Grande Auditório do CCB, talvez a sala que mais tenha a ver com a música de Leão.
Outro dos «truques» de Rodrigo Leão para que a sua arte resulte na plenitude é a escolha certa dos seus camaradas de palco. A mestria de Celina da Piedade no acordeão (e xilofone) é exemplo dessa competência e é impossível resistir ao “swing” desta mulher que, para além disso, detém uma voz maravilhosa - mas lá chegaremos…
A primeira experiência fora do reportório de Rodrigo Leão em nome próprio foi com “Tardes de Bolonha”, um magnífico instrumental dos tempos de “Existir”, um dos álbuns charneira dos saudosos Madredeus. Muito aplaudida, esta performance fez lembrar a potência que a música «frágil» de um projeto com a musicalidade da antiga banda de Pedro Ayres de Magalhães e Teresa Salgueiro pode possuir ao vivo.
Absolutamente brilhante. “Espiral II”, de “Ave Mundi Luminar” (1993), fez a audiência recuar no tempo e sentir o sabor dos primeiros tempos de Rodrigo Leão a solo. O excelente jogo sonoro proporcionado pela simbiose entre cordas, teclas e acordeão fazia notar que em palco se tocava com amor, vontade e saber.
A primeira dedicatória da noite surgiu aquando da apresentação de “Tango dos Malandros”, que Rodrigo fez questão de servir como presente a todos os malandros de Portugal, em especial a Gabriel Gomes, companheiro de Leão nos “Poetas”. “Os Cidadãos”, de “Portugal, um Retrato Social” (2007), que foi parte integrante de banda sonora de uma série passada pela televisão estatal nacional há alguns anos, foi a música seguinte e a grande intensidade dramática com que foi apresentada ao público valeu-lhe o título de uma das melhores prestações da noite, onde o devaneio onírico foi uma constante.
O andamento alegre de “La Fête” foi a primeira aproximação a “Cinema” (2004), um dos álbuns que marcou a música portuguesa na primeira década do século XXI. O palco, por momentos, transformou-se num salão de baile onde a valsa era o ritmo ouvido. O som redopia em cada instrumento e vem direito ao nosso coração.
Tal como tinha sido anunciado, Rodrigo Leão tinha preparado algumas surpresas para estes novos espetáculos e a participação de alguns convidados era esperada. A honra coube a Elisa Rodrigues, que deu voz a dois dos mais emblemáticos temas de Rodrigo Leão. Para a acompanhar chegariam ao palco Fred Garcês para a bateria, e João Eleutério para a guitarra. A partir daí, o baixo passaria de mão, entre Leão e Eleutério.
As maravilhosas “The Long Run”, de “Songs…”, e “Lonely Carousel”, retirada do aplaudido “Cinema”, originalmente cantadas por Joan as Policewomam e Beth Gibbons, voz dos Portishead, foram, talvez, os momentos menos conseguidos de todo o concerto, não por culpa da voz competente de Elisa Rodrigues, mas porque os registos particulares das já referidas cantoras são insubstituíveis.
Ainda com Rodrigo Leão no baixo, ouviram-se mais dois temas de “A Montanha Mágica”. “Revolta” e “Aviões de Papel” serviram para nos devolver ao ambiente neoclássico e instrumental bem alimentado pela versatilidade dos músicos. Ao português Gomo coube a (árdua) tarefa de cantar outra canção do reportório de Rodrigo Leão, originalmente gravada com uma outra das vozes mais marcantes da música britânica, Niel Hannon, líder dos Divine Comedy. De uma forma irrepreensível, ouvimos “Cathy” ser cantada e dedicada a todas as mulheres nesta noite especial de 8 de março e os muitos e merecidos aplausos ouvidos no final foram consequência de uma excelente prestação.
A noite estava de facto a ser muito agradável, tal como Rodrigo Leão desejou no início do espetáculo, mas a temperatura e intensidade iriam aumentar com a presença de Scott Matthew. Com uma voz fabulosa, o cantor australiano brindou os presentes com quatro momentos de rara beleza. “In the End”, “Terrible Dawn”, “Incomplete” e “Hapiness” por si só valeriam a presença no CCB e abrilhantaram ainda mais a noite.
Antes da saída do palco ainda se ouviu “Hibernauta” e “A Comédia de Deus”. Se na música retirada de “A Montanha Mágica” a sala sentiu o espectro de um tango, no caso da faixa de “Cinema” foi o ambiente de fanfarra que saiu do palco e abraçou todos os presentes.
O regresso ao palco fez brilhar mais uma estrela. Com duas performances perfeitas, sem aspas, Celina da Piedade entregou alma e coração a “Alfama”, dos Madredeus, e “Pasión” que originalmente conta com a voz de Lula Pena e faz parte do álbum homónimo. O público, conhecedor das canções, deu uma ajuda e, a espaços, sentia-se um coro em toda a sala.
Com o público teimosamente a permanecer na sala a aplaudir os artistas ausentes do palco, foi com naturalidade com que ainda se assistiu a mais duas peças de puro brilhantismo, novamente com grande responsabilidade para a voz e genialidade de Scott Matthew. Só com a guitarra, o ex-vocalista dos Elva Snow tocou uma versão magnífica de “Smile”, saída do imaginário de Charlie Chaplin. Ainda extasiados com a performance de Matthew, os presentes tiveram também direito a ouvir “Enemies”, uma nova música que resulta da colaboração entre o vocalista e Rodrigo Leão. A noite acabaria assim, com o público a aplaudir de pé e com os “bravos” a ouvirem-se amiúde.
Antes da apresentação de Rodrigo Leão per si, foram os “Poetas” - que lançaram recentemente “Autografia” - a ocupar o palco, para apresentar a sua música que é, no fundo, a extensão da própria poesia. Com a marca inconfundível de Leão dos teclados, os Poetas contam com Gabriel Gomes no acordeão, Viviana Tupikova no violino, Sandra Martins no clarinete e violoncelo e ainda com o ator Miguel Borges nas vocalizações. Durante a meia hora que o coletivo esteve em palco ouviram-se temas como “We Are Welcome to Elsinor”, “O Navio de Espelhos”, “Poema”, “História de Cão” e “Há Uma Hora”, de Mário Cesariny, alguns deles interpretados pela voz, ora doce ora cavernosa, de Miguel Borges.
In Palco Principal
segunda-feira, 11 de março de 2013
“MORTE COM VISTA PARA O MAR”
de PEDRO GARCIA ROSADO
Crime no País real
Com uma obra onde pontificam livros como “Crimes Solitários”, “A Cidade do Medo” e “Vermelho da Cor de Sangue”, Pedro Garcia Rosado é um dos mais representativos escritores do género policial do nosso País, cuja mestria é reconhecida no universo literário nacional.
“Morte com Vista para o Mar” é o seu mais recente trabalho e abre uma colecção de romances que terão como personagens centrais um triângulo constituído por o ex-casal Gabriel Ponte e Patrícia Ponte, inspectora-coordenadora da Judiciária e a jornalista Filomena Coutinho. A responsabilidade da edição deste promissor conjunto de livros é da Topseller, uma chancela da editora 20/20, que faz a sua primeira aposta no registo policial.
Antigo jornalista, Pedro Garcia Rosado divide o seu tempo nos dias de hoje entre as actividades da escrita e da tradução. “Morte com Vista para o Mar” é o seu oitavo livro e assume-se como uma narrativa vibrante e repleta de suspense, onde o crime e a adrenalina escondem-se a cada esquina.
A riqueza dos personagens de Rosado e a sua contextualização na realidade portuguesa confere-lhes uma forte identificação com o leitor, que se envolve num acontecimento que podia acontecer na sua região, na sua cidade, na sua rua.
Exemplo dessa intimidade é a personagem central. Gabriel da Ponte, ex-funcionário da Polícia Judiciária, segue muito a linha de alguns (anti)heróis do policial negro, como o são algumas criações de Dashiel Hammett, Raymond Chandler ou Robert Wilson. E, como Philip Marlowe, Sam Spade ou Javier Falcon, Ponte é uma alma solitária, dorida, escondida em si mesma que, depois de um esgotamento nervoso e da falência pessoal, acabou reformado precocemente do seu trabalho de inspector.
Ainda assim, Patrícia não deixa de contar com o ex-marido para a ajudar nas suas complicadas tarefas e, em “Morte com Vista para o Mar”, Gabriel será um forte aliado na tentativa da resolução do caso da morte brutal de Alberto Morgado – especialista em Direito e ex-amante e professor de Patrícia nos tempos de faculdade -, pois o assassinato ocorreu nas Caldas da Rainha, região onde o ex-PJ habita.
Um contacto realizado meses antes pelo Professor a Patrícia, revelando conhecimento sobre um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro que gira em órbita de um empreendimento turístico gigantesco idealizado nas falésias da Costa Atlântica, inicia uma série de peripécias em contra relógio de forma a conseguir encontrar culpados e tentar fugir a um jogo onde, caçador e presa, podem facilmente ser confundidos.
Nesta trama muito bem idealizada e com um ritmo que agarra o leitor às páginas do livro sem cessar, existem interesses locais, investimentos estrangeiros, tráficos de influências, mulheres eternamente insatisfeitas consigo próprias, personagens à beira do abismo, homens violentos e com sede de sangue, personagens frutos do sistema e um blogger anónimo. O motivo de um crime poderá ser legitimado pelo desequilibro emocional e pela ganância de cumprir um objetivo a qualquer custo ou é a vingança um propósito cabal?
No fundo, “Morte com Vista para o Mar” tem tudo o que um policial deve ter sendo o mistério o plano de fundo. As personagens são de carne e osso e não há espaço para heróis ou personagens supérfluas. O conhecimento do autor sobre a realidade portuguesa e dos próprios contornos de uma investigação policial torna os diálogos mais fortes e dá força, coesão e credibilidade à própria história inserida num contexto social onde os media têm uma força desmedida e que podem manobrar a informação consoante a origem ou amizades do patronato.
Rosado consegue um enredo forte e equilibrado entre o caso em si e o conhecimento e profundidade dos próprios personagens, que revelam dados íntimos das suas vidas e do que aconteceu às mesmas, de forma a esclarecer o relacionamento entre si – especialmente no complexo caso de Gabriel, Patrícia e Filomena.
Uma agradável e muito recomendada surpresa, “Morte com Vista para o Mar” faz as delícias dos amantes do género policial e de todos que gostam uma história repleta de acção e suspense.
As boas notícias não acabam aqui. Segundo a editora, em Setembro podemos contar com mais uma aventura deste trio. “Morte na Arena: A Descida aos Infernos” está agendado para o próximo Outono e promete mais crime e boas histórias – as primeiras páginas podem ser lidas no final de “Morte com Vista para o Mar”.
In Rua de Baixo
Com uma obra onde pontificam livros como “Crimes Solitários”, “A Cidade do Medo” e “Vermelho da Cor de Sangue”, Pedro Garcia Rosado é um dos mais representativos escritores do género policial do nosso País, cuja mestria é reconhecida no universo literário nacional.
“Morte com Vista para o Mar” é o seu mais recente trabalho e abre uma colecção de romances que terão como personagens centrais um triângulo constituído por o ex-casal Gabriel Ponte e Patrícia Ponte, inspectora-coordenadora da Judiciária e a jornalista Filomena Coutinho. A responsabilidade da edição deste promissor conjunto de livros é da Topseller, uma chancela da editora 20/20, que faz a sua primeira aposta no registo policial.
Antigo jornalista, Pedro Garcia Rosado divide o seu tempo nos dias de hoje entre as actividades da escrita e da tradução. “Morte com Vista para o Mar” é o seu oitavo livro e assume-se como uma narrativa vibrante e repleta de suspense, onde o crime e a adrenalina escondem-se a cada esquina.
A riqueza dos personagens de Rosado e a sua contextualização na realidade portuguesa confere-lhes uma forte identificação com o leitor, que se envolve num acontecimento que podia acontecer na sua região, na sua cidade, na sua rua.
Exemplo dessa intimidade é a personagem central. Gabriel da Ponte, ex-funcionário da Polícia Judiciária, segue muito a linha de alguns (anti)heróis do policial negro, como o são algumas criações de Dashiel Hammett, Raymond Chandler ou Robert Wilson. E, como Philip Marlowe, Sam Spade ou Javier Falcon, Ponte é uma alma solitária, dorida, escondida em si mesma que, depois de um esgotamento nervoso e da falência pessoal, acabou reformado precocemente do seu trabalho de inspector.
Ainda assim, Patrícia não deixa de contar com o ex-marido para a ajudar nas suas complicadas tarefas e, em “Morte com Vista para o Mar”, Gabriel será um forte aliado na tentativa da resolução do caso da morte brutal de Alberto Morgado – especialista em Direito e ex-amante e professor de Patrícia nos tempos de faculdade -, pois o assassinato ocorreu nas Caldas da Rainha, região onde o ex-PJ habita.
Um contacto realizado meses antes pelo Professor a Patrícia, revelando conhecimento sobre um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro que gira em órbita de um empreendimento turístico gigantesco idealizado nas falésias da Costa Atlântica, inicia uma série de peripécias em contra relógio de forma a conseguir encontrar culpados e tentar fugir a um jogo onde, caçador e presa, podem facilmente ser confundidos.
Nesta trama muito bem idealizada e com um ritmo que agarra o leitor às páginas do livro sem cessar, existem interesses locais, investimentos estrangeiros, tráficos de influências, mulheres eternamente insatisfeitas consigo próprias, personagens à beira do abismo, homens violentos e com sede de sangue, personagens frutos do sistema e um blogger anónimo. O motivo de um crime poderá ser legitimado pelo desequilibro emocional e pela ganância de cumprir um objetivo a qualquer custo ou é a vingança um propósito cabal?
No fundo, “Morte com Vista para o Mar” tem tudo o que um policial deve ter sendo o mistério o plano de fundo. As personagens são de carne e osso e não há espaço para heróis ou personagens supérfluas. O conhecimento do autor sobre a realidade portuguesa e dos próprios contornos de uma investigação policial torna os diálogos mais fortes e dá força, coesão e credibilidade à própria história inserida num contexto social onde os media têm uma força desmedida e que podem manobrar a informação consoante a origem ou amizades do patronato.
Rosado consegue um enredo forte e equilibrado entre o caso em si e o conhecimento e profundidade dos próprios personagens, que revelam dados íntimos das suas vidas e do que aconteceu às mesmas, de forma a esclarecer o relacionamento entre si – especialmente no complexo caso de Gabriel, Patrícia e Filomena.
Uma agradável e muito recomendada surpresa, “Morte com Vista para o Mar” faz as delícias dos amantes do género policial e de todos que gostam uma história repleta de acção e suspense.
As boas notícias não acabam aqui. Segundo a editora, em Setembro podemos contar com mais uma aventura deste trio. “Morte na Arena: A Descida aos Infernos” está agendado para o próximo Outono e promete mais crime e boas histórias – as primeiras páginas podem ser lidas no final de “Morte com Vista para o Mar”.
In Rua de Baixo
quinta-feira, 7 de março de 2013
How to Destroy Angels - “Welcome Oblivion”
Veludo digital
Depois de dois EP’s e alguma ansiedade por parte dos fãs de sempre do mago do industrial Trent Reznor, alma e mentor dos icónicos Nine Inch Nails, eis que chega “Welcome Oblivion” o primeiro longa duração da banda.
Se, em 2010, o EP homónimo dos How to Destroy Angels apanhou de surpresa meio mundo, “An Omen EP_”, lançado em novembro do ano passado, já deixava antever que a banda de Trent Reznor, Mariqueen Maading, Atticus Ross e Rob Sheridan estaria bem próxima de editar algo em grande.
A grande atividade dos Nine Inch Nails, que lançaram nos últimos tempos “Year Zero” e os vários “Ghosts”, foi outro entrave à maior dedicação de Trent Reznor aos seus novos companheiros. Mas os How to Destroy Angels são mais que um “outro” projeto para um Reznor, que já viu reconhecido o seu talento enquanto músico ao ganhar prémios como Globos de Ouro, Grammys e um Óscar.
Ao ouvir tanto os EP´s como o álbum (constituído também pelas músicas que já constavam nos dois referenciados registos) notamos que Reznor tenta afastar-se no universo mais trashy dos Nine Inch Nails e aposta num som mais intimista, ainda que sejam os ambientes eletrónicos que mais se façam sentir. Mas, desta vez, a orgânica do som faz-se em conjunto com algumas pitadas mais acústicas.
Outra das grandes mudanças face ao trabalho com os Nine Inch Nails é o afastamento da voz de Reznor, que dá lugar à melancolia que emana da versatilidade e excelência vocal de Mariqueen Maading, sua esposa. Ao longo das 13 canções que compõem “Welcome Oblivion”, Maading assume-se como o fio condutor de uma música assente em batidas digitais que brotam de sintetizadores cientes em relegar para «segundo plano» guitarras, baixo e bateria.
O registo sussurrado de Maading, por vezes acompanhado pela voz fantasma de Reznor, resulta muito bem para o ambiente geral do som da banda, que atinge com frequência momentos de grande beleza melódica, contrastando com a frieza das batidas digitais. Aqui, mais do que cantar, Trent Reznor aposta na criatividade e rejeita o protagonismo conferido pelo microfone.
A faixa que abre o disco, “The Wake Up”, serve como um despertador para a nossa alma e ouvidos e é um bom exemplo do que os How To Destroy Angels podem e quem ser. Em menos de dois minutos, começamos com o ambiente «atrofiado» nos Nine Inch Nails para nos afastarmos gradualmente do mesmo, principalmente ao sentir a voz sensual de Mariqueen, que tenta sobrepor-se às batidas sintéticas e ondulantes repletas de efeitos maquinais.
“Keep it Together” continua a fazer essa ponte e os assombros da voz de Reznor cortam com a doçura de Mariqueen, conferindo unidade à musicalidade de um ambiente que procura um certo estatuto niilista de ser. Exemplo disso é também “And the Sky Began to Scream”, que se assume com um dos registos mais maquinais de todo o disco. O espírito industrial está bem patente, apesar de não serem necessários registos vocais mais agressivos, provando que o grito não é, de todo, mais lancinante que uma muralha sonora compacta e um duo vocal que nos leva a pontos de saturação.
Outro dos grandes pontos de interesse neste disco é o seu caráter eclético. Não podemos considerar “Welcome Oblivion” como um conjunto de músicas em si mesmas, mas sim enquanto um todo, sendo essa uma das características que torna este disco numa peça tão fluida.
Se, em alguns casos, é a complexidade da construção da canção e das várias camadas e efeitos que a compõem que a tornam excitante, noutros é a sua simplicidade que a torna brilhante. Exemplos desses dois universos paralelos são a faixa título, em “oposição” a “Ice Age”, um dos momentos mais atraentes e diferentes do disco, onde a eletrónica dá lugar a contornos “folk” que a voz maravilhosa de Maading eleva ainda mais.
Por sua vez, “On The Wing” faz-nos regressar ao universo puro e duro da eletrónica, ainda que com uma carga ambiental assinalável. A voz robótica de Reznor, acompanhada pela filigrana dos ecos de Mariqueen, confere ao som uma tonalidade escura, onde as batidas industriais são, aqui e ali, embelezadas com uns acordes de piano. Por momentos, somos levados numa viagem até aos fragmentos mais frágeis dos Nine Inch Nails.
“Too Late, All gone” é outro exemplo do bom acasalamento vocal entre o casal Trent e Mariqueen. “The morning change / everything stays the same”, canta-se por aqui, e as batidas percorrem o corpo de quem as ouve. A bateria deixa-se ouvir, algo tímida, mas confere corpo à música, entregue quase exclusivamente a bits e bytes.
Um dos cartões de visita deste disco é “How Long”, o primeiro single a ser retirado de “Welcome Oblivion”. Ao ouvi-lo, percebemos a sua escolha. Com um ritmo viciante e sincopado e uma voz hipnótica a roçar o gospel, “How Long” cativa às primeiras audições. Brilhante é também a linha de baixo que acompanha a trilha sonora desta faixa condenada ao sucesso e a ser um, talvez, um hit radiofónico.
Logo a seguir, “Strings and Attractors” volta a lembrar fantasmas da banda de sempre de Trent Reznor e “We Fade Away” tem um corpo minimal apenas contrariado pelas pinceladas de um piano trágico. É, mais uma vez, o sentimento de claustrofobia que ganha corpo.
Se até este ponto do disco a(s) voz(es) assumia-se preponderante, as últimas três faixas deixam-se levar pelo carácter mais instrumental, assente em batidas mid-tempo.
“Recursive self-improvement” atira-nos para ambientes electrónicos da década de 1980, com os teclados a assumirem papel de destaque, e “The Loop Closes” é um exercício minimal onde o puzzle musical se completa através de várias camadas sonoras, assim como com a voz de Reznor na sua parte final. É a “Hallowed Ground” que cabe a tarefa de terminar o disco e o ciclo é fechado por cerca de sete minutos de um piano dolente, laivos espaçados de eletrónica fugaz e uma voz omnipresente entregue a um espírito desolado.
Em jeito de resumo, podemos afirmar que estamos perante um excelente disco, que marca, ainda que tal possa não ser o objectivo principal, um distanciamento em relação ao som dos outros projetos de Trent Reznor.
Com “Welcome Oblivion” nasce um novo conceito musical e, como tal, em alguns momentos, é preciso entregar espaço à música e dar-lhe várias oportunidades, pois uma primeira audição pode tornar-se insuficiente para tirar o melhor partido das composições dos How to Destroy Angels, que observam vários graus de intensidade e construção.
As peças musicais aqui reveladas são díspares, coesas e a natureza experimental das mesmas são a génese da sua personalidade. Repleto de momentos brilhantes, resultantes de um som pós-apocalítico, este álbum pode agradar aos fãs de sempre de Trent Reznor, bem como a quem nunca orbitou no planeta do vocalista dos Nine Inch Nails.
Alinhamento:
01.The wake-up
02.Keep it Together
03.And the Sky Became to Scream
04.Welcome Oblivion
05.Ice Age
06.On the Wing 07.Too Late, All Gone
08.How Long?
09.Strings and Attractors
10.We Fade Away
11.Recursive self-improvement
12.The Loop Closes
13.Hallowed Ground
Classificação do Palco: 8/10
In Palco Principal
Depois de dois EP’s e alguma ansiedade por parte dos fãs de sempre do mago do industrial Trent Reznor, alma e mentor dos icónicos Nine Inch Nails, eis que chega “Welcome Oblivion” o primeiro longa duração da banda.
Se, em 2010, o EP homónimo dos How to Destroy Angels apanhou de surpresa meio mundo, “An Omen EP_”, lançado em novembro do ano passado, já deixava antever que a banda de Trent Reznor, Mariqueen Maading, Atticus Ross e Rob Sheridan estaria bem próxima de editar algo em grande.
A grande atividade dos Nine Inch Nails, que lançaram nos últimos tempos “Year Zero” e os vários “Ghosts”, foi outro entrave à maior dedicação de Trent Reznor aos seus novos companheiros. Mas os How to Destroy Angels são mais que um “outro” projeto para um Reznor, que já viu reconhecido o seu talento enquanto músico ao ganhar prémios como Globos de Ouro, Grammys e um Óscar.
Ao ouvir tanto os EP´s como o álbum (constituído também pelas músicas que já constavam nos dois referenciados registos) notamos que Reznor tenta afastar-se no universo mais trashy dos Nine Inch Nails e aposta num som mais intimista, ainda que sejam os ambientes eletrónicos que mais se façam sentir. Mas, desta vez, a orgânica do som faz-se em conjunto com algumas pitadas mais acústicas.
Outra das grandes mudanças face ao trabalho com os Nine Inch Nails é o afastamento da voz de Reznor, que dá lugar à melancolia que emana da versatilidade e excelência vocal de Mariqueen Maading, sua esposa. Ao longo das 13 canções que compõem “Welcome Oblivion”, Maading assume-se como o fio condutor de uma música assente em batidas digitais que brotam de sintetizadores cientes em relegar para «segundo plano» guitarras, baixo e bateria.
O registo sussurrado de Maading, por vezes acompanhado pela voz fantasma de Reznor, resulta muito bem para o ambiente geral do som da banda, que atinge com frequência momentos de grande beleza melódica, contrastando com a frieza das batidas digitais. Aqui, mais do que cantar, Trent Reznor aposta na criatividade e rejeita o protagonismo conferido pelo microfone.
A faixa que abre o disco, “The Wake Up”, serve como um despertador para a nossa alma e ouvidos e é um bom exemplo do que os How To Destroy Angels podem e quem ser. Em menos de dois minutos, começamos com o ambiente «atrofiado» nos Nine Inch Nails para nos afastarmos gradualmente do mesmo, principalmente ao sentir a voz sensual de Mariqueen, que tenta sobrepor-se às batidas sintéticas e ondulantes repletas de efeitos maquinais.
“Keep it Together” continua a fazer essa ponte e os assombros da voz de Reznor cortam com a doçura de Mariqueen, conferindo unidade à musicalidade de um ambiente que procura um certo estatuto niilista de ser. Exemplo disso é também “And the Sky Began to Scream”, que se assume com um dos registos mais maquinais de todo o disco. O espírito industrial está bem patente, apesar de não serem necessários registos vocais mais agressivos, provando que o grito não é, de todo, mais lancinante que uma muralha sonora compacta e um duo vocal que nos leva a pontos de saturação.
Outro dos grandes pontos de interesse neste disco é o seu caráter eclético. Não podemos considerar “Welcome Oblivion” como um conjunto de músicas em si mesmas, mas sim enquanto um todo, sendo essa uma das características que torna este disco numa peça tão fluida.
Se, em alguns casos, é a complexidade da construção da canção e das várias camadas e efeitos que a compõem que a tornam excitante, noutros é a sua simplicidade que a torna brilhante. Exemplos desses dois universos paralelos são a faixa título, em “oposição” a “Ice Age”, um dos momentos mais atraentes e diferentes do disco, onde a eletrónica dá lugar a contornos “folk” que a voz maravilhosa de Maading eleva ainda mais.
Por sua vez, “On The Wing” faz-nos regressar ao universo puro e duro da eletrónica, ainda que com uma carga ambiental assinalável. A voz robótica de Reznor, acompanhada pela filigrana dos ecos de Mariqueen, confere ao som uma tonalidade escura, onde as batidas industriais são, aqui e ali, embelezadas com uns acordes de piano. Por momentos, somos levados numa viagem até aos fragmentos mais frágeis dos Nine Inch Nails.
“Too Late, All gone” é outro exemplo do bom acasalamento vocal entre o casal Trent e Mariqueen. “The morning change / everything stays the same”, canta-se por aqui, e as batidas percorrem o corpo de quem as ouve. A bateria deixa-se ouvir, algo tímida, mas confere corpo à música, entregue quase exclusivamente a bits e bytes.
Um dos cartões de visita deste disco é “How Long”, o primeiro single a ser retirado de “Welcome Oblivion”. Ao ouvi-lo, percebemos a sua escolha. Com um ritmo viciante e sincopado e uma voz hipnótica a roçar o gospel, “How Long” cativa às primeiras audições. Brilhante é também a linha de baixo que acompanha a trilha sonora desta faixa condenada ao sucesso e a ser um, talvez, um hit radiofónico.
Logo a seguir, “Strings and Attractors” volta a lembrar fantasmas da banda de sempre de Trent Reznor e “We Fade Away” tem um corpo minimal apenas contrariado pelas pinceladas de um piano trágico. É, mais uma vez, o sentimento de claustrofobia que ganha corpo.
Se até este ponto do disco a(s) voz(es) assumia-se preponderante, as últimas três faixas deixam-se levar pelo carácter mais instrumental, assente em batidas mid-tempo.
“Recursive self-improvement” atira-nos para ambientes electrónicos da década de 1980, com os teclados a assumirem papel de destaque, e “The Loop Closes” é um exercício minimal onde o puzzle musical se completa através de várias camadas sonoras, assim como com a voz de Reznor na sua parte final. É a “Hallowed Ground” que cabe a tarefa de terminar o disco e o ciclo é fechado por cerca de sete minutos de um piano dolente, laivos espaçados de eletrónica fugaz e uma voz omnipresente entregue a um espírito desolado.
Em jeito de resumo, podemos afirmar que estamos perante um excelente disco, que marca, ainda que tal possa não ser o objectivo principal, um distanciamento em relação ao som dos outros projetos de Trent Reznor.
Com “Welcome Oblivion” nasce um novo conceito musical e, como tal, em alguns momentos, é preciso entregar espaço à música e dar-lhe várias oportunidades, pois uma primeira audição pode tornar-se insuficiente para tirar o melhor partido das composições dos How to Destroy Angels, que observam vários graus de intensidade e construção.
As peças musicais aqui reveladas são díspares, coesas e a natureza experimental das mesmas são a génese da sua personalidade. Repleto de momentos brilhantes, resultantes de um som pós-apocalítico, este álbum pode agradar aos fãs de sempre de Trent Reznor, bem como a quem nunca orbitou no planeta do vocalista dos Nine Inch Nails.
Alinhamento:
01.The wake-up
02.Keep it Together
03.And the Sky Became to Scream
04.Welcome Oblivion
05.Ice Age
06.On the Wing 07.Too Late, All Gone
08.How Long?
09.Strings and Attractors
10.We Fade Away
11.Recursive self-improvement
12.The Loop Closes
13.Hallowed Ground
Classificação do Palco: 8/10
In Palco Principal
quarta-feira, 6 de março de 2013
“OS ALFERES”
de MÁRIO DE CARVALHO
Do ultramar com humor
A Guerra Colonial foi um dos acontecimentos mais marcantes em Portugal no século passado. Milhares de jovens foram forçados a viver com um destino incerto, partindo para terras que apenas conheciam do mapa ou, para os mais afortunados, através da televisão.
Com as vidas interrompidas por uma convocatória para um conflito estranho a muitos, a nossa rapaziada apta para as coisas da tropa fez a trouxa e lá embarcou no “Vera Cruz”, “Santa Maria”, “Infante D. Henrique”, “Quanza” e outros.
Semanas a caminho da incerteza. Angola, Moçambique, Guiné e Timor eram alguns dos destinos possíveis. A maior parte regressaria, outros, infelizmente, perderiam as vidas numa guerra onde o inferno do conflito fazia matar ou morrer.
É essa parte da história recente de Portugal que Mário de Carvalho conta no seu “Os Alferes”, uma reedição deste capítulo da obra do autor português, agora com a responsabilidade da Porto Editora.
Conhecido por livros como “Contos da Sétima Esfera”, “Fantasia para dois Coronéis e uma Piscina”, “A Sala Magenta” e o mais recente “O Varandim seguido do Ocaso em Carvangel”, o autor alfacinha, que viveu de forma intensa o Portugal de pré e pós revolução, relata em “Os Alferes” histórias sobre alguns episódios numa África lusitana à beira de conhecer novo destino.
Através de uma escrita versátil, dinâmica e bem-humorada ficamos a conhecer alferes e engenheiros, jovens oficiais do exército que deambulam pelas picadas africanas e Timor, conhecendo dilemas de vida, morte e absurdo, onde o ciúme e a traição podem ser um pequeno passo para a morte. Há também lugar para uma história repleta de sombras, onde a violência e o “salve-se quem puder” levam ao desespero irracional.
Esta obra dá-nos a conhecer três bem-humoradas narrativas de vidas a quem a guerra levou para longe dos seus – para o desconhecido, para o ridículo. Pessoas que “a cada passo deixavam para trás um pedaço de África”, pois a vontade de regressar à pátria era mais forte que tudo.
O estatuto ficcional destes textos já lhe valeu adaptações ao cinema e teatro e o seu autor foi alvo de notícia ao vencer galardões como os Grandes Prémios de Romance, Conto e Teatro da APE, assim como o Prémio do Pen Clube e o internacional Pégaso.
In Rua de Baixo
A Guerra Colonial foi um dos acontecimentos mais marcantes em Portugal no século passado. Milhares de jovens foram forçados a viver com um destino incerto, partindo para terras que apenas conheciam do mapa ou, para os mais afortunados, através da televisão.
Com as vidas interrompidas por uma convocatória para um conflito estranho a muitos, a nossa rapaziada apta para as coisas da tropa fez a trouxa e lá embarcou no “Vera Cruz”, “Santa Maria”, “Infante D. Henrique”, “Quanza” e outros.
Semanas a caminho da incerteza. Angola, Moçambique, Guiné e Timor eram alguns dos destinos possíveis. A maior parte regressaria, outros, infelizmente, perderiam as vidas numa guerra onde o inferno do conflito fazia matar ou morrer.
É essa parte da história recente de Portugal que Mário de Carvalho conta no seu “Os Alferes”, uma reedição deste capítulo da obra do autor português, agora com a responsabilidade da Porto Editora.
Conhecido por livros como “Contos da Sétima Esfera”, “Fantasia para dois Coronéis e uma Piscina”, “A Sala Magenta” e o mais recente “O Varandim seguido do Ocaso em Carvangel”, o autor alfacinha, que viveu de forma intensa o Portugal de pré e pós revolução, relata em “Os Alferes” histórias sobre alguns episódios numa África lusitana à beira de conhecer novo destino.
Através de uma escrita versátil, dinâmica e bem-humorada ficamos a conhecer alferes e engenheiros, jovens oficiais do exército que deambulam pelas picadas africanas e Timor, conhecendo dilemas de vida, morte e absurdo, onde o ciúme e a traição podem ser um pequeno passo para a morte. Há também lugar para uma história repleta de sombras, onde a violência e o “salve-se quem puder” levam ao desespero irracional.
Esta obra dá-nos a conhecer três bem-humoradas narrativas de vidas a quem a guerra levou para longe dos seus – para o desconhecido, para o ridículo. Pessoas que “a cada passo deixavam para trás um pedaço de África”, pois a vontade de regressar à pátria era mais forte que tudo.
O estatuto ficcional destes textos já lhe valeu adaptações ao cinema e teatro e o seu autor foi alvo de notícia ao vencer galardões como os Grandes Prémios de Romance, Conto e Teatro da APE, assim como o Prémio do Pen Clube e o internacional Pégaso.
In Rua de Baixo
segunda-feira, 4 de março de 2013
Yo La Tengo
@ Aula Magna
As duas faces do trio de Hoboken
Quando, com mais de duas horas de concerto e cerca de 20 músicas já tocadas, os três de Hoboken iniciam “Pass the Hatchet, I Think I’m Goodkind“, um dos momentos mais brilhantes do excelente concerto que Ira, Georgia e James deram na Aula Magna na passada sexta-feira, ninguém podia esperar subir tão alto. Ao longo de cerca de 15 minutos, os Yo La Tengo levam-nos até a um universo criado por estes três excelentes músicos, que teimam em manter-se em grande forma. Se Georgia e James aguentam estoicamente um quarto de hora no mesmo registo sorumbático e quase minimal, Ira pega em várias guitarras e dá-lhes vida, conferindo-lhes brilho, animosidade. Os pedais dão uma ajuda e o feedback instala-se no auditório da universidade.O barulho leva-nos ao limite e as reações são diversas: uns tapam os ouvidos, outros abrem os tímpanos e a alma ao puzzle sónico que emana das cordas elétricas que Ira manobra como poucos. A intensidade é tanta, que parece que Kaplan faz amor com as guitarras e, de facto, é paixão em forma de som que se ouve.
Assistir a um espetáculo dos Yo La Tengo é mais do que ir a um concerto - é uma celebração, um convite ao êxtase, e ,na semana passada, isso voltou a confirmar-se durante cerca de três horas, com intervalo, discos pedidos e muito, muito mais.
Quem, ao entrar na Aula Magna, olhasse para o palco, via um cenário pouco habitual. Três réplicas de árvores, inspiradas na capa de “Fade”, o mais recente registo sonoro dos Yo La Tengo, separavam dois conjuntos de instrumentos. Como tem sido habitual nos últimos concertos da banda, o espetáculo tem duas faces diferentes. Se, numa primeira fase, é o registo acústico que toma conta do ambiente, depois do intervalo tudo se transfigura e a eletricidade solta amarras.
Depois dos três músicos entrarem na sala e ocuparem o set acústico, os primeiros acordes são dedicados a “Ohm”, faixa de abertura de “Fade”. Em uníssuno, James, Georgia e Ira cantam devagar, de forma suave, como se nos quisessem embalar. “Two Trains”, também de “Fade”, segue-se e, pela primeira vez, somos confrontados com o som que resulta da caixa de ritmos. A guitarra dá uma ajuda e somos convidados a navegar num mar tranquilo com o jogo de luzes no teto a ajudar a criar um ambiente bonito.
Apesar de não estar cheia, a Aula Magna registava uma casa muito simpática. Ainda assim, Ira repara que entre os lugares mais perto do palco se encontram algumas cadeiras vazias. Simpático, Kaplan convida o público que está mais longe a aproximar-se. Segundo ele, os Yo La Tengo “são pacíficos e inofensivos”. O diálogo com a assistência continua e Ira recorda que já visitaram Portugal muitas vezes, a primeira das quais há cerca de duas décadas. Com memória de elefante, Kaplan recorda a setlist do primeiro concerto por terras lusas e oferece duas músicas que constavam na mesma. “Satelite”, de “May I Sing With Me” (1992), e “Double Dare”, de “Painful” (1993), são as eleitas, mas desta vez são interpretadas em formato acústico.
“Demons”, faixa que integra a banda sonora do filme “I Shot Andy Warhol”, resulta num excelente diálogo entre baixo e bateria e dá liberdade ao dedilhar suave da guitarra de Ira. A seguir, Kaplan agarra-se, pela primeira vez, aos teclados e “Gentle Hour”, um original dos neozelandeses Snapper pela voz de James McNew, é oferecido ao público, que reage com um dos maiores aplausos da noite. “Point of It”, com Georgia nos teclados, inicia um ciclo dedicado a “Fade”, que incluiria a belíssima e intimista “Cornelia and Jane”, a dolente “I’ll Be Around” e a swingante “Stupid Things”. Outro ponto em comum neste conjunto de canções é a doçura da voz de Georgia que, por vezes, faz lembrar o tom enigmático da saudosa Nico.
Antes da já referida pausa, e para finalizar uma primeira parte acústica e intimista, faltava ouvir “Nothing to Hide”, de “Popular Songs” (2009). Mas ainda havia muito mais para ouvir, ver e sentir.
Depois da mudança de cenário, as árvores aparecem atrás da bateria e os amplificadores substituem a sombra do acústico pelo sol da eletricidade. Ira, agora de t-shirt, pede mais luz. Sente-se um espírito mais rock and roll. “Before We Run”, também de "Fade", é o primeiro exemplo dos Yo La Tengo elétricos. A bateria ganha volume, o baixo afirma-se e a guitarra é rainha. Os feedbacks são agora um lugar-comum e bem-vindo, e o público agarra-se ao som. Mas não só as guitarras destilam fúria. Em “Sudden Organ”, faixa retirada de “Painful” (1993), Ira, endiabrado, luta com o órgão e faz as teclas soarem verdadeiramente noise. A seguir, voltaríamos a “Fade”, com “Is Not Enough” a mostrar uns Yo La Tengo com espírito de grupo de baile.
“Beanbag Chair”, de “I’m Not Afraid…” (2006), antecedeu a única incursão da banda em “Electr-O-Pura” (1995), sendo “Decora” a canção eleita. De seguida, voltámos a “Fade”, com a bem esgalhada “Paddle Foward”, para depois ouvirmos um dos maiores hinos da banda, “Little Honda”, de “I Can Hear the Heart Beating as One” (1997), num ambiente surf sustentado por uma muralha sónica.
Numa noite especial não se estranhou nova viagem a “Ohm”, agora numa versão cheia de decibéis, na qual Ira toca a guitarra no seu todo. Kaplan (des)afina a sua companheira elétrica e leva-a ao expoente do suportável. Em versão lenta ou com velocidade supersónica, os Yo La Tengo demonstram que as suas canções têm alma, coração, pés e cabeça.
O primeiro dos encores começaria com uma versão dos The Seeds, de "Sky Saxon", e “Can’t Seem to Make You Mine” foi um exercício competente de aquecimento para “Baskets of Love”, um autêntico hino de rock bem esgalhado pela voz de McNew. O clima de cumplicidade entre a banda e o público valeu que este último tivesse direito a um pedido especial - tão especial que a banda pediu uns minutos para ensaiar.
As duas últimas canções da longa noite, com Georgia fora da bateria, a cantar junto a Ira, seriam um “Big Day Coming” muito suave e “Griselda”, de “Fakebook” (1990).
Ao fim de quase três horas, intervalo incluído, tivemos de tudo. Bons músicos, excelente companhia e um fantástico concerto. Mas a noite ainda seria mais especial com Ira na área de merchandising a distribuir autógrafos e muita simpatia. Acreditem: não se podia pedir muito mais…
In Palco Principal
Quando, com mais de duas horas de concerto e cerca de 20 músicas já tocadas, os três de Hoboken iniciam “Pass the Hatchet, I Think I’m Goodkind“, um dos momentos mais brilhantes do excelente concerto que Ira, Georgia e James deram na Aula Magna na passada sexta-feira, ninguém podia esperar subir tão alto. Ao longo de cerca de 15 minutos, os Yo La Tengo levam-nos até a um universo criado por estes três excelentes músicos, que teimam em manter-se em grande forma. Se Georgia e James aguentam estoicamente um quarto de hora no mesmo registo sorumbático e quase minimal, Ira pega em várias guitarras e dá-lhes vida, conferindo-lhes brilho, animosidade. Os pedais dão uma ajuda e o feedback instala-se no auditório da universidade.O barulho leva-nos ao limite e as reações são diversas: uns tapam os ouvidos, outros abrem os tímpanos e a alma ao puzzle sónico que emana das cordas elétricas que Ira manobra como poucos. A intensidade é tanta, que parece que Kaplan faz amor com as guitarras e, de facto, é paixão em forma de som que se ouve.
Assistir a um espetáculo dos Yo La Tengo é mais do que ir a um concerto - é uma celebração, um convite ao êxtase, e ,na semana passada, isso voltou a confirmar-se durante cerca de três horas, com intervalo, discos pedidos e muito, muito mais.
Quem, ao entrar na Aula Magna, olhasse para o palco, via um cenário pouco habitual. Três réplicas de árvores, inspiradas na capa de “Fade”, o mais recente registo sonoro dos Yo La Tengo, separavam dois conjuntos de instrumentos. Como tem sido habitual nos últimos concertos da banda, o espetáculo tem duas faces diferentes. Se, numa primeira fase, é o registo acústico que toma conta do ambiente, depois do intervalo tudo se transfigura e a eletricidade solta amarras.
Depois dos três músicos entrarem na sala e ocuparem o set acústico, os primeiros acordes são dedicados a “Ohm”, faixa de abertura de “Fade”. Em uníssuno, James, Georgia e Ira cantam devagar, de forma suave, como se nos quisessem embalar. “Two Trains”, também de “Fade”, segue-se e, pela primeira vez, somos confrontados com o som que resulta da caixa de ritmos. A guitarra dá uma ajuda e somos convidados a navegar num mar tranquilo com o jogo de luzes no teto a ajudar a criar um ambiente bonito.
Apesar de não estar cheia, a Aula Magna registava uma casa muito simpática. Ainda assim, Ira repara que entre os lugares mais perto do palco se encontram algumas cadeiras vazias. Simpático, Kaplan convida o público que está mais longe a aproximar-se. Segundo ele, os Yo La Tengo “são pacíficos e inofensivos”. O diálogo com a assistência continua e Ira recorda que já visitaram Portugal muitas vezes, a primeira das quais há cerca de duas décadas. Com memória de elefante, Kaplan recorda a setlist do primeiro concerto por terras lusas e oferece duas músicas que constavam na mesma. “Satelite”, de “May I Sing With Me” (1992), e “Double Dare”, de “Painful” (1993), são as eleitas, mas desta vez são interpretadas em formato acústico.
“Demons”, faixa que integra a banda sonora do filme “I Shot Andy Warhol”, resulta num excelente diálogo entre baixo e bateria e dá liberdade ao dedilhar suave da guitarra de Ira. A seguir, Kaplan agarra-se, pela primeira vez, aos teclados e “Gentle Hour”, um original dos neozelandeses Snapper pela voz de James McNew, é oferecido ao público, que reage com um dos maiores aplausos da noite. “Point of It”, com Georgia nos teclados, inicia um ciclo dedicado a “Fade”, que incluiria a belíssima e intimista “Cornelia and Jane”, a dolente “I’ll Be Around” e a swingante “Stupid Things”. Outro ponto em comum neste conjunto de canções é a doçura da voz de Georgia que, por vezes, faz lembrar o tom enigmático da saudosa Nico.
Antes da já referida pausa, e para finalizar uma primeira parte acústica e intimista, faltava ouvir “Nothing to Hide”, de “Popular Songs” (2009). Mas ainda havia muito mais para ouvir, ver e sentir.
Depois da mudança de cenário, as árvores aparecem atrás da bateria e os amplificadores substituem a sombra do acústico pelo sol da eletricidade. Ira, agora de t-shirt, pede mais luz. Sente-se um espírito mais rock and roll. “Before We Run”, também de "Fade", é o primeiro exemplo dos Yo La Tengo elétricos. A bateria ganha volume, o baixo afirma-se e a guitarra é rainha. Os feedbacks são agora um lugar-comum e bem-vindo, e o público agarra-se ao som. Mas não só as guitarras destilam fúria. Em “Sudden Organ”, faixa retirada de “Painful” (1993), Ira, endiabrado, luta com o órgão e faz as teclas soarem verdadeiramente noise. A seguir, voltaríamos a “Fade”, com “Is Not Enough” a mostrar uns Yo La Tengo com espírito de grupo de baile.
“Beanbag Chair”, de “I’m Not Afraid…” (2006), antecedeu a única incursão da banda em “Electr-O-Pura” (1995), sendo “Decora” a canção eleita. De seguida, voltámos a “Fade”, com a bem esgalhada “Paddle Foward”, para depois ouvirmos um dos maiores hinos da banda, “Little Honda”, de “I Can Hear the Heart Beating as One” (1997), num ambiente surf sustentado por uma muralha sónica.
Numa noite especial não se estranhou nova viagem a “Ohm”, agora numa versão cheia de decibéis, na qual Ira toca a guitarra no seu todo. Kaplan (des)afina a sua companheira elétrica e leva-a ao expoente do suportável. Em versão lenta ou com velocidade supersónica, os Yo La Tengo demonstram que as suas canções têm alma, coração, pés e cabeça.
O primeiro dos encores começaria com uma versão dos The Seeds, de "Sky Saxon", e “Can’t Seem to Make You Mine” foi um exercício competente de aquecimento para “Baskets of Love”, um autêntico hino de rock bem esgalhado pela voz de McNew. O clima de cumplicidade entre a banda e o público valeu que este último tivesse direito a um pedido especial - tão especial que a banda pediu uns minutos para ensaiar.
As duas últimas canções da longa noite, com Georgia fora da bateria, a cantar junto a Ira, seriam um “Big Day Coming” muito suave e “Griselda”, de “Fakebook” (1990).
Ao fim de quase três horas, intervalo incluído, tivemos de tudo. Bons músicos, excelente companhia e um fantástico concerto. Mas a noite ainda seria mais especial com Ira na área de merchandising a distribuir autógrafos e muita simpatia. Acreditem: não se podia pedir muito mais…
In Palco Principal
sexta-feira, 1 de março de 2013
Atoms for Peace - “Amok”
Quebra-cabeças
O primeiro álbum de qualquer banda é, definitivamente, um marco. Enquanto ouvintes, não sabemos o que esperar. As referências, se é que existem, podem estar associadas aos membros que formam o coletivo. Mas no caso dos Atoms for Peace a coisa ganha outros contornos. Um grupo constituído por Tom Yorke, Nigel Godrich (Radiohead), Flea (Red Hot Chilly Peppers), Mauro Refosco (Forro and the Dark e Red Hot Chilly Peppers) e Joey Waronker (R.E.M.) ganha, de imediato, o epíteto de super.
As expetativas crescem entre nós, ouvintes, e salivamos pela novidade. Mas será que a fórmula resulta? O que podemos esperar de “Amok”? Um álbum gerado por pais criativos pode ser um nado condenado a atingir o mais elevado patamar qualitativo? Perguntas legítimas, quando falamos de uma banda que integra alguns dos mais talentosos músicos das últimas décadas, cujos projetos próprios marcaram, também, o universo musical.
A ideia de formar esta “banda” foi do vocalista dos Radiohead que, aquando do lançamento da sua primeira aventura a solo, “The Eraser”, reuniu alguns amigos, de forma a apresentar o referido disco ao vivo. O projecto ganhou outra dimensão e a elaboração deste álbum resulta de forma natural depois das muitas jams realizadas.
Numa primeira audição, “Amok” segue a linha auditiva do álbum de estreia de Tom Yorke e dos mais recentes discos dos Radiohead, mas sentimos a presença da alma dos restantes convidados. Tecnicamente, estamos perante um disco sem mácula, com um som envolvente, rico em pormenores e contrastes, onde a transição entre a “frieza” eletrónica e o calor das (quase ausentes) guitarras são uma das chaves do sucesso.
No geral, o ambiente é denso, cativante, minimal. A voz de Yorke continua sinónimo de “atrofio”, de claustrofobia, de melodia à beira do colapso. O baixo marca, e bem, o compasso, as cordas indicam timidamente o caminho e a precursão sente-se bem no meio dos arranjos eletrónicos.
A faixa que inaugura o álbum, “Before Your Very Eyes”, uma das mais bem conseguidas de todo o trabalho, abre com uma batida de influências afro, com o baixo de Flea a indicar o trilho à voz de Yorke e com as batidas a obedecerem a um padrão seguro. Aos poucos, a orgânica é substituída pela electrónica e apenas a voz se mantém imutável. Eis um dos grandes trunfos dos Atoms for Peace: a capacidade de vestir várias peles sem perder o rasto de um final feliz.
Em “Default”, as ambiências eletrónicas tomam conta da paisagem e o resultado continua envolvente. A faixa abre com uma espécie de coito sonoro interrompido e avança para contornos drone. Aos poucos, ouvimos por aqui os Radiohead, mas queremos mais um pouco.
Seguimos para “Ingenue” e estamos perante um dos exercícios mais “estranhos” de “Amok”. O digital ganha espaço e segue o seu rumo. É impossível não associar esta faixa do espírito de “Kid A” e sentir a sensualidade inata da alma do «Yorke eletrónico».
Por sua vez, “Dropped” é outro dos momentos mais inspirados do disco. Começa de forma lenta e delicada, vai ganhando corpo e, finalmente, entramos numa espiral apaixonada. Aqui, a desconstrução pop da música em si resulta de forma excelente.
“Care a less, I Couldn’t Care a Less…” - é assim, desta forma desapaixonada, que Thom Yorke apresenta “Unless”, um tema - podemos dizer - dançável. O baixo de Flea surge por entre as precursões sorumbáticas de Refosco, os sintetizadores atacam o vazio e os nossos corpos tendem a dançar, ainda que devagar.
Ainda com o corpo a abanar chegamos a “Stuck Together Pieces” e não temos fuga possível do labirinto que é a música dos Atoms for Peace. Depois de se estranhar, ou não, esta música entranha-se e a única hipótese é navegar num som cujo farol está numa voz à deriva. Tal como Yorke canta, “You Won’t Get Away”.
“Judge, Jury and Executioner” é uma faixa sinistra, sendo a maior contribuição para tal cenário o desolado coro que se ouve em segundo plano. As batidas eletrónicas revezam-se com os acordes tímidos da guitarra e o baixo sublinha o clima de estranheza. Conciliador, Yorke solta uma brisa de (de)esperança: “Don’y Worry Baby, It Goes Right Through Me / I’m like the Wind and My Anger Will Disappear”.
“Reverse Running” é outra aposta (ganha) na doce transição entre as nuances orgânicas e eletrónicas, sendo que aqui conseguimos - o que é raro neste disco - sentir a presença firme de uma guitarra. Mesmo que não seja essa a intenção da banda, esta faixa parece ter sido concebida como um troféu de consolação para os fãs de longa data dos Radiohead, ainda que inspirada num planeta próximo dos Four Tet.
Para o final, está reservada a fantasmagórica faixa título. “Amok” destila uma voz vinda de um qualquer além desenhado em tons cinzentos, onde, mais uma vez, a eletrónica assume o controlo emocional. O lamurio do piano traz um final esperado. A música para e ficamos com uma estranha sensação de alívio, ainda que tentados a fazer novamente “play”. E por que não ouvir novamente?
Alinhamento:
01.Before Your Very Eyes
02.Default
03.Ingenue
04.Dropped
05.Unless
06.Stuck Together Pieces
07.Judge, Jury and Executioner
08.Reverse Running
09.Amok
Classificação do Palco: 8/10
In Palco Principal
O primeiro álbum de qualquer banda é, definitivamente, um marco. Enquanto ouvintes, não sabemos o que esperar. As referências, se é que existem, podem estar associadas aos membros que formam o coletivo. Mas no caso dos Atoms for Peace a coisa ganha outros contornos. Um grupo constituído por Tom Yorke, Nigel Godrich (Radiohead), Flea (Red Hot Chilly Peppers), Mauro Refosco (Forro and the Dark e Red Hot Chilly Peppers) e Joey Waronker (R.E.M.) ganha, de imediato, o epíteto de super.
As expetativas crescem entre nós, ouvintes, e salivamos pela novidade. Mas será que a fórmula resulta? O que podemos esperar de “Amok”? Um álbum gerado por pais criativos pode ser um nado condenado a atingir o mais elevado patamar qualitativo? Perguntas legítimas, quando falamos de uma banda que integra alguns dos mais talentosos músicos das últimas décadas, cujos projetos próprios marcaram, também, o universo musical.
A ideia de formar esta “banda” foi do vocalista dos Radiohead que, aquando do lançamento da sua primeira aventura a solo, “The Eraser”, reuniu alguns amigos, de forma a apresentar o referido disco ao vivo. O projecto ganhou outra dimensão e a elaboração deste álbum resulta de forma natural depois das muitas jams realizadas.
Numa primeira audição, “Amok” segue a linha auditiva do álbum de estreia de Tom Yorke e dos mais recentes discos dos Radiohead, mas sentimos a presença da alma dos restantes convidados. Tecnicamente, estamos perante um disco sem mácula, com um som envolvente, rico em pormenores e contrastes, onde a transição entre a “frieza” eletrónica e o calor das (quase ausentes) guitarras são uma das chaves do sucesso.
No geral, o ambiente é denso, cativante, minimal. A voz de Yorke continua sinónimo de “atrofio”, de claustrofobia, de melodia à beira do colapso. O baixo marca, e bem, o compasso, as cordas indicam timidamente o caminho e a precursão sente-se bem no meio dos arranjos eletrónicos.
A faixa que inaugura o álbum, “Before Your Very Eyes”, uma das mais bem conseguidas de todo o trabalho, abre com uma batida de influências afro, com o baixo de Flea a indicar o trilho à voz de Yorke e com as batidas a obedecerem a um padrão seguro. Aos poucos, a orgânica é substituída pela electrónica e apenas a voz se mantém imutável. Eis um dos grandes trunfos dos Atoms for Peace: a capacidade de vestir várias peles sem perder o rasto de um final feliz.
Em “Default”, as ambiências eletrónicas tomam conta da paisagem e o resultado continua envolvente. A faixa abre com uma espécie de coito sonoro interrompido e avança para contornos drone. Aos poucos, ouvimos por aqui os Radiohead, mas queremos mais um pouco.
Seguimos para “Ingenue” e estamos perante um dos exercícios mais “estranhos” de “Amok”. O digital ganha espaço e segue o seu rumo. É impossível não associar esta faixa do espírito de “Kid A” e sentir a sensualidade inata da alma do «Yorke eletrónico».
Por sua vez, “Dropped” é outro dos momentos mais inspirados do disco. Começa de forma lenta e delicada, vai ganhando corpo e, finalmente, entramos numa espiral apaixonada. Aqui, a desconstrução pop da música em si resulta de forma excelente.
“Care a less, I Couldn’t Care a Less…” - é assim, desta forma desapaixonada, que Thom Yorke apresenta “Unless”, um tema - podemos dizer - dançável. O baixo de Flea surge por entre as precursões sorumbáticas de Refosco, os sintetizadores atacam o vazio e os nossos corpos tendem a dançar, ainda que devagar.
Ainda com o corpo a abanar chegamos a “Stuck Together Pieces” e não temos fuga possível do labirinto que é a música dos Atoms for Peace. Depois de se estranhar, ou não, esta música entranha-se e a única hipótese é navegar num som cujo farol está numa voz à deriva. Tal como Yorke canta, “You Won’t Get Away”.
“Judge, Jury and Executioner” é uma faixa sinistra, sendo a maior contribuição para tal cenário o desolado coro que se ouve em segundo plano. As batidas eletrónicas revezam-se com os acordes tímidos da guitarra e o baixo sublinha o clima de estranheza. Conciliador, Yorke solta uma brisa de (de)esperança: “Don’y Worry Baby, It Goes Right Through Me / I’m like the Wind and My Anger Will Disappear”.
“Reverse Running” é outra aposta (ganha) na doce transição entre as nuances orgânicas e eletrónicas, sendo que aqui conseguimos - o que é raro neste disco - sentir a presença firme de uma guitarra. Mesmo que não seja essa a intenção da banda, esta faixa parece ter sido concebida como um troféu de consolação para os fãs de longa data dos Radiohead, ainda que inspirada num planeta próximo dos Four Tet.
Para o final, está reservada a fantasmagórica faixa título. “Amok” destila uma voz vinda de um qualquer além desenhado em tons cinzentos, onde, mais uma vez, a eletrónica assume o controlo emocional. O lamurio do piano traz um final esperado. A música para e ficamos com uma estranha sensação de alívio, ainda que tentados a fazer novamente “play”. E por que não ouvir novamente?
Alinhamento:
01.Before Your Very Eyes
02.Default
03.Ingenue
04.Dropped
05.Unless
06.Stuck Together Pieces
07.Judge, Jury and Executioner
08.Reverse Running
09.Amok
Classificação do Palco: 8/10
In Palco Principal
Subscrever:
Mensagens (Atom)