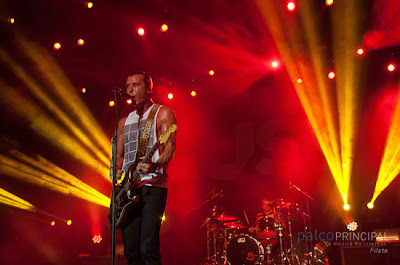Carta de Boas Festas
Primeiro, enlaçou-nos os ouvidos com os Toranja, depois escreveu-nos algumas das mais belas cartas musicais que o panorama nacional conheceu nas últimas décadas e agora, como prenda de Natal, sussurra-nos ao vivo e em acústico.
Para esta nova aventura discográfica, Tiago Bettencourt reuniu algumas das suas melhores canções e, na companhia do seu amigo de batalhas musicais Ricardo Frutuoso, ex-companheiro dos Toranja, de Jorge Palma e Lura, fez um dos mais belos e intimistas discos deste ano que agora finda.
A essência do trabalho, segundo o próprio Tiago, foi fazer “um álbum com um conjunto de músicas que, desde o meu princípio como músico, o público foi escolhendo como preferidas…mas desta vez apresentadas despidas, ao vivo e sem truques”. Sabendo nós que o cantautor é fã do formato unplugged tornado célebre pela MTV durante a década de 1990, aceitar o convite da editora para abraçar semelhante projeto não terá sido difícil.
Assim, no verão deste ano, Tiago Bettencourt saiu da toca e, perante cerca de seis dezenas de convidados, gravou este “Acústico”, que assume um formato de compilação a que o lançamento perto da época natalícia não será alheio.
O resultado é um excitante e intimista registo que apenas nos deixa cheios de inveja por não termos estado no meio dos convidados.
Munido de um talento e simplicidade desconcertantes, Tiago Bettencourt começa o registo com uma maravilhosa “Carta”, de cara lavada, que terá sido o ponto de partida para todo este disco. A partir daqui, a chama que é nossa vai mantendo-se acesa ao longo dos 15 temas apresentados.
A Orquestra Concerto Moderno, Lura e Jorge Palma abrilhantam a festa e é impossível ficar indiferente a este disco, que é, no fundo, uma celebração da própria música enquanto fragmento de poesia cantada e tocada.
Se canções como “Já não te Encontro Mais”, “Jogo” e “Chocámos Tu e Eu” mantiveram uma identidade quase leal, já as versões de “Canção de Engate” e “Pó de Arroz”, de António Variações e Carlos Paião, dois génios do nacional cançonetismo, deram uma alma nova às já brilhantes composições.
De facto, Tiago dá-se, entrega-se, ouve-se e dá vontade de repetir, vezes sem conta. Da sensação ficamos com a certeza de estarmos perante alguns dos novos clássicos da música portuguesa.
As merecidas palmas sucedem-se ao longo do disco e as excelentes canções também. “Só Mais uma Volta”, “Cenário”, “Eu Esperei”, “Caminho de Voltar” e o inédito “Temporal”, cantado em uníssono, são pérolas encontradas nesta ostra em formato acústico.
“Laços” é a única música que merece bis e o disco termina na companhia de Jorge Palma. Um final muito bonito e solene, que nos faz ficar com água na boca, pois queremos mais, queremos provar outra vez.
Alinhamento:
1. Carta
2. Canção Simples
3. Canção de Engate
4. Já não te encontro mais (com Lura)
5. Os dois
6. O jogo
7. Só mais uma volta
8. Laços
9. Chocámos Tu e Eu
10. Pó de Arroz
11. Cenário
12. Eu esperei
13. Caminho de Voltar
14. Temporal
15. Laços (com Jorge Palma)
Classificação do Palco: 8/10
In Palco Principal
“Don’t think about making art, just get it done. Let everyone else decide if it’s good or bad, whether they love it or hate it. While they are deciding, make even more art.” Andy Warhol
sexta-feira, 21 de dezembro de 2012
segunda-feira, 17 de dezembro de 2012
Rodrigo Leão
"Songs 2004-2012"
Canções com sotaque inglês
Longe vão os tempos de Rodrigo Leão enquanto membro da Sétima Legião e dos Madredeus. Os ecos cinzentos da Manchester dos anos 1980 ficaram para trás e, ao optar por uma carreira a solo, Leão deu um importante e definitivo passo na sua afirmação enquanto músico.
De forte influência neoclássica, os seus primeiros trabalhos denotavam a coabitação de universos musicais de gente ilustre como Micheal Nyman, Win Mertens e o lado mais clássico de Ryuichi Sakamoto, onde o espírito minimal estava bem presente.
Em 1993, quando lançou o seu primeiro trabalho a solo e “Ave Mundi Luminari”, Rodrigo Leão abriu um novo caminho para a música nacional e um espaço para explorar.
“Mysteruim”, “Theatrum” e o bem-sucedido “Alma Mater” foram surgindo com naturalidade, tendo como filosofia a utilização de um misto de instrumentos clássicos e eletrónicos, assim como a presença do latim como língua “universal”, alicerçado em vozes de cariz lírico.
O relativo sucesso da música de Leão levou à edição de dois discos que indicavam uma mudança de rumo na carreira do compositor. Se “Pasión”, álbum ao vivo, já revelava uma tentativa de chegar ao formato canção mais tradicional, “Cinema”, um dos discos charneira da música portuguesa na década de 2000, mostrava um Rodrigo Leão mais maduro musicalmente e a dar voz às suas composições, conseguindo mesmo colaborações importantes de nomes como Beth Gibbons, vocalista dos Portishead, e do mestre Sakamoto. Também Sónia Tavares, vocalista dos The Gift, deu alma a três canções do álbum, duas cantadas em inglês e uma em francês. Estávamos perante a génese deste “Songs 2004-2012”.
Mais tarde, em 2009, no disco “Mãe”, que Rodrigo Leão dedicou à sua entretanto falecia progenitora, a atmosfera nostálgica do trabalho trouxe mais duas participações de luxo ao seu reportório. Niel Hannon, dos Divine Comedy, e Stuart Staples, dos Tindersticks, aceitaram o convite do músico português e abrilhantaram o álbum. A portuguesa Ana Vieira, que costuma acompanhar ao vivo Rodrigo Leão, cantaria também neste disco “Sleepsless Heart”.
E é assim que chegamos a esta nova aventura de Rodrigo Leão. Segundo o compositor, “Songs 2004-2012” é a primeira parte de uma possível trilogia, pois os outros dois discos, de “ambientes mais ibéricos e atlânticos”, ainda só ecoam na cabeça de Rodrigo Leão e podem mesmo ficar na gaveta da sua memória.
Este disco em particular surge em forma de “coletânea", com temas do reportório de Leão cantados em inglês - a maioria já editados anteriormente.
Ainda assim, existem três novidades deste disco. A abrir, Rodrigo Leão oferece “The Long Run”, um belíssimo tema cantado por Joan as Police Woman, sendo que o australiano Scott Mathew dá a voz a “Incomplete”. A outra música nova do disco é, como exceção que confirma a regra, o instrumental “Last Words”.
Na prática, este “Songs 2004-2012”, não acrescentando muito à discografia de Rodrigo Leão, revela-se um bom ponto de partida para conhecer o lado mais “cantado” do compositor e é sempre um deleite ouvir tão boa música e excelentes vozes.
Alinhamento
1. The Long Run – voz de Joan as Police Woman (tema inédito);
2. Deep Blue (Album Version) – voz de Sónia Tavares;
3. Happiness (Album Version);
4. Sleepless Heart (2012 Edit) voz de Ana Vieira;
5. Cathy – voz de Neil Hannon;
6. Lonely Carousel (Album Version) – voz de Beth Gibbons;
7. Lost Words - instrumental (tema inédito);
8.Terrible Dawn – voz de Scott Matthew;
9. This Light Holds So Many Colours – voz de Stuart Staples;
10. Incomplete – voz de Scot Matthew (tema inédito)
Classificação do Palco: 7/10
In Palco Principal
Longe vão os tempos de Rodrigo Leão enquanto membro da Sétima Legião e dos Madredeus. Os ecos cinzentos da Manchester dos anos 1980 ficaram para trás e, ao optar por uma carreira a solo, Leão deu um importante e definitivo passo na sua afirmação enquanto músico.
De forte influência neoclássica, os seus primeiros trabalhos denotavam a coabitação de universos musicais de gente ilustre como Micheal Nyman, Win Mertens e o lado mais clássico de Ryuichi Sakamoto, onde o espírito minimal estava bem presente.
Em 1993, quando lançou o seu primeiro trabalho a solo e “Ave Mundi Luminari”, Rodrigo Leão abriu um novo caminho para a música nacional e um espaço para explorar.
“Mysteruim”, “Theatrum” e o bem-sucedido “Alma Mater” foram surgindo com naturalidade, tendo como filosofia a utilização de um misto de instrumentos clássicos e eletrónicos, assim como a presença do latim como língua “universal”, alicerçado em vozes de cariz lírico.
O relativo sucesso da música de Leão levou à edição de dois discos que indicavam uma mudança de rumo na carreira do compositor. Se “Pasión”, álbum ao vivo, já revelava uma tentativa de chegar ao formato canção mais tradicional, “Cinema”, um dos discos charneira da música portuguesa na década de 2000, mostrava um Rodrigo Leão mais maduro musicalmente e a dar voz às suas composições, conseguindo mesmo colaborações importantes de nomes como Beth Gibbons, vocalista dos Portishead, e do mestre Sakamoto. Também Sónia Tavares, vocalista dos The Gift, deu alma a três canções do álbum, duas cantadas em inglês e uma em francês. Estávamos perante a génese deste “Songs 2004-2012”.
Mais tarde, em 2009, no disco “Mãe”, que Rodrigo Leão dedicou à sua entretanto falecia progenitora, a atmosfera nostálgica do trabalho trouxe mais duas participações de luxo ao seu reportório. Niel Hannon, dos Divine Comedy, e Stuart Staples, dos Tindersticks, aceitaram o convite do músico português e abrilhantaram o álbum. A portuguesa Ana Vieira, que costuma acompanhar ao vivo Rodrigo Leão, cantaria também neste disco “Sleepsless Heart”.
E é assim que chegamos a esta nova aventura de Rodrigo Leão. Segundo o compositor, “Songs 2004-2012” é a primeira parte de uma possível trilogia, pois os outros dois discos, de “ambientes mais ibéricos e atlânticos”, ainda só ecoam na cabeça de Rodrigo Leão e podem mesmo ficar na gaveta da sua memória.
Este disco em particular surge em forma de “coletânea", com temas do reportório de Leão cantados em inglês - a maioria já editados anteriormente.
Ainda assim, existem três novidades deste disco. A abrir, Rodrigo Leão oferece “The Long Run”, um belíssimo tema cantado por Joan as Police Woman, sendo que o australiano Scott Mathew dá a voz a “Incomplete”. A outra música nova do disco é, como exceção que confirma a regra, o instrumental “Last Words”.
Na prática, este “Songs 2004-2012”, não acrescentando muito à discografia de Rodrigo Leão, revela-se um bom ponto de partida para conhecer o lado mais “cantado” do compositor e é sempre um deleite ouvir tão boa música e excelentes vozes.
Alinhamento
1. The Long Run – voz de Joan as Police Woman (tema inédito);
2. Deep Blue (Album Version) – voz de Sónia Tavares;
3. Happiness (Album Version);
4. Sleepless Heart (2012 Edit) voz de Ana Vieira;
5. Cathy – voz de Neil Hannon;
6. Lonely Carousel (Album Version) – voz de Beth Gibbons;
7. Lost Words - instrumental (tema inédito);
8.Terrible Dawn – voz de Scott Matthew;
9. This Light Holds So Many Colours – voz de Stuart Staples;
10. Incomplete – voz de Scot Matthew (tema inédito)
Classificação do Palco: 7/10
In Palco Principal
segunda-feira, 10 de dezembro de 2012
Matt Corby @ Santiago Alquimista
Ídolo sem pés de barro
Num sábado com muito frio e nevoeiro à mistura, a sempre simpática sala do Santiago Alquimista acolheu, pela primeira vez em Portugal, Matt Corby, um rapaz australiano que deu os primeiros passos no mundo da música no conhecido reality show “Ídolos”, edição Austrália.
Matt Corby encantou os antípodas com apenas 17 anos mas, desde aí, a sua ascensão calma e ponderada levou-a à edição de alguns EPs recheados de magníficas canções. Muitas vezes comparado a nomes como Nick Drake, Jeff Buckley, e Justin Vernon, Corby é detentor de uma voz fantástica, que muda de registo com uma facilidade incrível, mantendo uma afinação acima de qualquer suspeita.
Assim, com tantos elogios, não se estranhou que o Santiago Alquimista registasse lotação esgotada para receber Matt Corby e seus amigos. A intimidade que a sala permite faz com que o público esteja muito próximo dos artistas, o que é sempre importante para aumentar a tão desejada cumplicidade entre quem está em cima do palco e quem assiste ao espetáculo.
Como anteriormente se referiu, para muitos Corby é ainda um “ídolo”. A primeira fila da assistência revelava isso mesmo. Dezenas de jovens raparigas, de máquina em punho e sempre prontas para soltar um gritinho de devoção, estavam a postos para prestar a devida “vassalagem” à sua estrela.
Mas que Corby seria esperado? Ao longo do (curto) concerto, Matt provou que está muito longe do tal rapaz de 17 anos dos “Ídolos” e é hoje um cantor adulto. A sua música amadureceu. As suas canções revelam-se intimistas, serenas e, acima de tudo, seguras de si.
Bem perto das 22h00, Matt Corby aparece em palco numa posse de anti-herói. Sozinho e apenas com a guitarra como companhia, oferece ao público um “Big Eyes” extremamente belo, cantado de uma forma muito próxima do registo de Jeff Buckley. O silêncio da sala era quase total e apenas o barulho dos motores das máquinas fotográficas contrastava com a beleza da performance do cantor. Estava dado o mote para a próxima hora.
“Kings, Queens, Beggars and Thieves” foi a segunda música da noite, quando em palco se juntavam os restantes amigos de Corby. Mais encorpado, muito por culpa da atuação da banda, este segundo tema, assim como outros que foram tocados, ganha outro brilho quando Bree Tranter, teclista, empresta a sua suave voz para os coros.
Um dos momentos mais altos da noite aconteceu com “Runaway”. A excelente introdução do tema, pautado por guitarras planantes e uma bateria a marcar o compasso, revelou a muito competente química que existe entre todos os membros da banda. Mas por muito que os instrumentos brilhassem, era a voz de Matt Corby que mais se destacava. Antes de “Made of Stone”, muito bem recebida pelo público, Corby fez questão de apresentar os seus companheiros de estrada. Para além da já referida teclista, a banda conta ainda com Chris na bateria, Johnny na guitarra e Kevin no baixo. Corby troca de posição com Bree e ocupa o piano. As cabeças das jovens na primeira fila movem-se sempre em direção do seu herói…
Segue-se uma das mais conhecidas faixas de Matt Corby. “Brother” traz de volta o cantor à guitarra e ao seu lugar natural, que é frente ao(s) microfone(s). Com o público a acompanhar a canção, Matt Corby entrega-se de alma e coração e canta em bicos de pés, para que a sua voz chegue ainda mais alto. E, de facto, consegue.
Como excelente contador de histórias que é, Matt Corby, em jeito de confissão, fala de “Letter”, uma missiva que foi o acto final de uma paixão que pouco durou, mas que marcou o coração do jovem australiano. A sala escutou, em silêncio, o que Corby contou e, essencialmente, cantou. E, durante uns minutos, o tal coração despedaçado sarou e curou cicatrizes passadas.
A seguir, e antes do encore, “Untitled” e “ Souls A Fire” levaram-nos por mais uns momentos a sentir a fantástica voz de Corby, muito bem secundada pelos restantes músicos. Por instantes, somos transportados para um ambiente blusy aconchegante que revela pormenores de jam session.
Aquele que foi, infelizmente, um dos concertos mais curtos que assistimos este ano, não deixou de contar com um encore que trouxe a palco mais duas excelentes performances. Primeiro, Corby, entregue à sua guitarra, despiu até ao tutano “Lonely Boy”, um original dos The Black Keys (que recentemente passaram por Lisboa), e arrancou do público uma das maiores ovações da noite. O final perfeito surgiu com “My False”, um tema bastante pedido pelos presentes que tiveram a ocasião de ver um concerto muito, muito competente e inspirado.
Cerca de uma hora depois de começar, a atuação de Matt e camaradas de estrada leva-nos a desejar que o muito aguardado álbum chegue em breve. Se neste sábado o Santiago Alquimista pareceu a sala ideal para um concerto destes australianos, no futuro vai ser complicado ver Corby de tão perto…
In Palco Principal
Num sábado com muito frio e nevoeiro à mistura, a sempre simpática sala do Santiago Alquimista acolheu, pela primeira vez em Portugal, Matt Corby, um rapaz australiano que deu os primeiros passos no mundo da música no conhecido reality show “Ídolos”, edição Austrália.
Matt Corby encantou os antípodas com apenas 17 anos mas, desde aí, a sua ascensão calma e ponderada levou-a à edição de alguns EPs recheados de magníficas canções. Muitas vezes comparado a nomes como Nick Drake, Jeff Buckley, e Justin Vernon, Corby é detentor de uma voz fantástica, que muda de registo com uma facilidade incrível, mantendo uma afinação acima de qualquer suspeita.
Assim, com tantos elogios, não se estranhou que o Santiago Alquimista registasse lotação esgotada para receber Matt Corby e seus amigos. A intimidade que a sala permite faz com que o público esteja muito próximo dos artistas, o que é sempre importante para aumentar a tão desejada cumplicidade entre quem está em cima do palco e quem assiste ao espetáculo.
Como anteriormente se referiu, para muitos Corby é ainda um “ídolo”. A primeira fila da assistência revelava isso mesmo. Dezenas de jovens raparigas, de máquina em punho e sempre prontas para soltar um gritinho de devoção, estavam a postos para prestar a devida “vassalagem” à sua estrela.
Mas que Corby seria esperado? Ao longo do (curto) concerto, Matt provou que está muito longe do tal rapaz de 17 anos dos “Ídolos” e é hoje um cantor adulto. A sua música amadureceu. As suas canções revelam-se intimistas, serenas e, acima de tudo, seguras de si.
Bem perto das 22h00, Matt Corby aparece em palco numa posse de anti-herói. Sozinho e apenas com a guitarra como companhia, oferece ao público um “Big Eyes” extremamente belo, cantado de uma forma muito próxima do registo de Jeff Buckley. O silêncio da sala era quase total e apenas o barulho dos motores das máquinas fotográficas contrastava com a beleza da performance do cantor. Estava dado o mote para a próxima hora.
“Kings, Queens, Beggars and Thieves” foi a segunda música da noite, quando em palco se juntavam os restantes amigos de Corby. Mais encorpado, muito por culpa da atuação da banda, este segundo tema, assim como outros que foram tocados, ganha outro brilho quando Bree Tranter, teclista, empresta a sua suave voz para os coros.
Um dos momentos mais altos da noite aconteceu com “Runaway”. A excelente introdução do tema, pautado por guitarras planantes e uma bateria a marcar o compasso, revelou a muito competente química que existe entre todos os membros da banda. Mas por muito que os instrumentos brilhassem, era a voz de Matt Corby que mais se destacava. Antes de “Made of Stone”, muito bem recebida pelo público, Corby fez questão de apresentar os seus companheiros de estrada. Para além da já referida teclista, a banda conta ainda com Chris na bateria, Johnny na guitarra e Kevin no baixo. Corby troca de posição com Bree e ocupa o piano. As cabeças das jovens na primeira fila movem-se sempre em direção do seu herói…
Segue-se uma das mais conhecidas faixas de Matt Corby. “Brother” traz de volta o cantor à guitarra e ao seu lugar natural, que é frente ao(s) microfone(s). Com o público a acompanhar a canção, Matt Corby entrega-se de alma e coração e canta em bicos de pés, para que a sua voz chegue ainda mais alto. E, de facto, consegue.
Como excelente contador de histórias que é, Matt Corby, em jeito de confissão, fala de “Letter”, uma missiva que foi o acto final de uma paixão que pouco durou, mas que marcou o coração do jovem australiano. A sala escutou, em silêncio, o que Corby contou e, essencialmente, cantou. E, durante uns minutos, o tal coração despedaçado sarou e curou cicatrizes passadas.
A seguir, e antes do encore, “Untitled” e “ Souls A Fire” levaram-nos por mais uns momentos a sentir a fantástica voz de Corby, muito bem secundada pelos restantes músicos. Por instantes, somos transportados para um ambiente blusy aconchegante que revela pormenores de jam session.
Aquele que foi, infelizmente, um dos concertos mais curtos que assistimos este ano, não deixou de contar com um encore que trouxe a palco mais duas excelentes performances. Primeiro, Corby, entregue à sua guitarra, despiu até ao tutano “Lonely Boy”, um original dos The Black Keys (que recentemente passaram por Lisboa), e arrancou do público uma das maiores ovações da noite. O final perfeito surgiu com “My False”, um tema bastante pedido pelos presentes que tiveram a ocasião de ver um concerto muito, muito competente e inspirado.
Cerca de uma hora depois de começar, a atuação de Matt e camaradas de estrada leva-nos a desejar que o muito aguardado álbum chegue em breve. Se neste sábado o Santiago Alquimista pareceu a sala ideal para um concerto destes australianos, no futuro vai ser complicado ver Corby de tão perto…
In Palco Principal
Maximo Park
TMN ao Vivo
A velocidade (é) deles
Naquela que foi a primeira data da mais recente digressão europeia, os cinco de Newcastle trouxeram a habitual competência, profissionalismo e simpatia que caracteriza as suas atuações. Com a sala inesperadamente aquém das expectativas (olá, crise?), os Maximo Park entraram, um a um, sendo o carismático líder Paul Smith o último a pisar o palco da sala lisboeta.
Vestido de preto, e ainda de casaco, Smith, na companhia do inseparável chapéu, entoou os primeiros versos de “When I Was Wild”, o mais curto e calmo dos temas de “National Health”, o mais recente disco da banda. De seguida, a banda atacou o tema homónimo do disco de 2012 e a energia estava à solta na sala ribeirinha.
Com apenas um “muito obrigado” pelo meio, surge o primeiro tema do álbum mais reconhecido pela crítica, “Our Earthly Pleasures”, de 2007. “Girls Who Play Guitars” arrancou aplausos nos presentes. A boa vibração seguiu-se com mais um tema de “National Health” e “Until the World Would Open” fazia os presentes gritar: “I won’t survive but i intend to have a good time”. Agradado com a entusiástica receção dos presentes, Paul Smith confessa a alegria de poder voltar a Portugal e, ao fundo, chegam os acordes, inicialmente, sussurrados de “Hips and Lips”, uma das canções mais elétricas e contagiantes da banda.
“Graffiti”, um dos hinos mais conhecidos dos Maximo Park e que mereceu um novo arranjo na introdução, leva-nos até 2005, quando a banda editou o seu primeiro trabalho, “A Certain Trigger”, que conseguiu a proeza de vender mais de 300 mil cópias no Reino Unido.
A proximidade do Tejo inspirou a banda que se lançou em dois temas de cariz “marítimo”. A “The Coast is Always Changing” de “A Certain Trigger” seguiu-se “Waves of Fear”, de “National Health”. Pelo meio, Smith e o Teclista Lukas Woller manifestavam o seu gosto pelo mar, seja ele fluvial ou atlântico.
A primeira incursão ao terceiro álbum da banda, “Quicken the Heart”, de 2009, foi com “The Kids Are Sick Again”, outra das grandes canções dos Maximo Park. Paul Smith, com uma entrega excecional, de megafone na mão, gritava a plenos pulmões. De clássico em clássico, o começo sintético punk de “Limassol” fez a pouca mas entusiasta assistência saltar bem alto.
Num registo mais calmo, “The Undercurrents”, um dos temas mais belos da banda e com um refrão orelhudo, enchia a alma dos presentes, que registavam com agrado a cumplicidade e harmonia entre os cinco elementos da banda, em grande forma. Depois, “Write This Down” contou com a ajuda do público quando Paul Simth desceu do palco e pediu que apresentassem a música na língua de Camões. O desejo foi satisfeito por uma alma feminina. “Take me Home” foi o momento da noite que se seguiu, ainda em território de “National Health”.
“Now I’m All Over The Shop”, outro tema de destaque de “A Certain Trigger”, leva-nos ao universo mais cru dos Maximo Park e, durante pouco mais de dois minutos, esquecemos tudo e ficamos entregues à música. Depois, “This is What Becames of The Broken Hearted”, revela uns Maximo Park à beira do colapso romântico, com destaque para o piano a conferir uma atmosfera mais intimista. Já “Going Missing” acelera a contenda e Simth grita pelo ressentimento.
De novo em “The Eartlhy Pleasures”, “By the Monument”, meio a pedido do público, é responsável por mais uma bela descarga de energia. Smith defende um pouco a voz, mas a energia não denota perdas e as teclas de Wooller ganham vida própria. “Books from Boxes”, bastante saudado, é alvo de mais uma excelente prestação da banda. Aplausos, agradecimentos e a “última”. “Aplly Some Preasure” é, talvez, o exemplo perfeito para definir os Maximo Park: entrega, prazer e talento.
A curta saída de palco fazia prever um encore e, de regresso, mais três excelentes momentos. “Pride Before a Fall”, um tema de 2004 em plena estreia ao vivo, segundo a banda, assentou que nem uma luva. A seguir, “I Want You to Stay” assumiu o papel de confissão desesperada e, como a cereja no topo de um bolo agridoce, “Our Velocity” fechou da melhor forma um concerto muito bem conseguido.
Antes dos Maximo Park, atuou o quarteto alfacinha Lissabon, banda que se mexe por uma amálgama de influências, que vão desde o psicadelismo dos 1970 até a registos indies, passando por um atraente synth pop característico do início dos 1980. No momento a promover o seu primeiro álbum, “If it’s Only Just a Dream”, os Lissabon são, na voz e guitarra, Pedro Lourenço, nas teclas Soraia Limão, no baixo e back vocals Inês Vicente e na bateria José Garcêz. Ao longo de cerca de 30 minutos, os Lissabon estiveram seguros, e, aos poucos, foram agarrando o público que já vai conhecendo temas como “Everytime (you Save the World)” e “I Promise, I Promise”. Sem dúvida, um projeto a ter em conta num futuro breve.
In Palco Principal
Naquela que foi a primeira data da mais recente digressão europeia, os cinco de Newcastle trouxeram a habitual competência, profissionalismo e simpatia que caracteriza as suas atuações. Com a sala inesperadamente aquém das expectativas (olá, crise?), os Maximo Park entraram, um a um, sendo o carismático líder Paul Smith o último a pisar o palco da sala lisboeta.
Vestido de preto, e ainda de casaco, Smith, na companhia do inseparável chapéu, entoou os primeiros versos de “When I Was Wild”, o mais curto e calmo dos temas de “National Health”, o mais recente disco da banda. De seguida, a banda atacou o tema homónimo do disco de 2012 e a energia estava à solta na sala ribeirinha.
Com apenas um “muito obrigado” pelo meio, surge o primeiro tema do álbum mais reconhecido pela crítica, “Our Earthly Pleasures”, de 2007. “Girls Who Play Guitars” arrancou aplausos nos presentes. A boa vibração seguiu-se com mais um tema de “National Health” e “Until the World Would Open” fazia os presentes gritar: “I won’t survive but i intend to have a good time”. Agradado com a entusiástica receção dos presentes, Paul Smith confessa a alegria de poder voltar a Portugal e, ao fundo, chegam os acordes, inicialmente, sussurrados de “Hips and Lips”, uma das canções mais elétricas e contagiantes da banda.
“Graffiti”, um dos hinos mais conhecidos dos Maximo Park e que mereceu um novo arranjo na introdução, leva-nos até 2005, quando a banda editou o seu primeiro trabalho, “A Certain Trigger”, que conseguiu a proeza de vender mais de 300 mil cópias no Reino Unido.
A proximidade do Tejo inspirou a banda que se lançou em dois temas de cariz “marítimo”. A “The Coast is Always Changing” de “A Certain Trigger” seguiu-se “Waves of Fear”, de “National Health”. Pelo meio, Smith e o Teclista Lukas Woller manifestavam o seu gosto pelo mar, seja ele fluvial ou atlântico.
A primeira incursão ao terceiro álbum da banda, “Quicken the Heart”, de 2009, foi com “The Kids Are Sick Again”, outra das grandes canções dos Maximo Park. Paul Smith, com uma entrega excecional, de megafone na mão, gritava a plenos pulmões. De clássico em clássico, o começo sintético punk de “Limassol” fez a pouca mas entusiasta assistência saltar bem alto.
Num registo mais calmo, “The Undercurrents”, um dos temas mais belos da banda e com um refrão orelhudo, enchia a alma dos presentes, que registavam com agrado a cumplicidade e harmonia entre os cinco elementos da banda, em grande forma. Depois, “Write This Down” contou com a ajuda do público quando Paul Simth desceu do palco e pediu que apresentassem a música na língua de Camões. O desejo foi satisfeito por uma alma feminina. “Take me Home” foi o momento da noite que se seguiu, ainda em território de “National Health”.
“Now I’m All Over The Shop”, outro tema de destaque de “A Certain Trigger”, leva-nos ao universo mais cru dos Maximo Park e, durante pouco mais de dois minutos, esquecemos tudo e ficamos entregues à música. Depois, “This is What Becames of The Broken Hearted”, revela uns Maximo Park à beira do colapso romântico, com destaque para o piano a conferir uma atmosfera mais intimista. Já “Going Missing” acelera a contenda e Simth grita pelo ressentimento.
De novo em “The Eartlhy Pleasures”, “By the Monument”, meio a pedido do público, é responsável por mais uma bela descarga de energia. Smith defende um pouco a voz, mas a energia não denota perdas e as teclas de Wooller ganham vida própria. “Books from Boxes”, bastante saudado, é alvo de mais uma excelente prestação da banda. Aplausos, agradecimentos e a “última”. “Aplly Some Preasure” é, talvez, o exemplo perfeito para definir os Maximo Park: entrega, prazer e talento.
A curta saída de palco fazia prever um encore e, de regresso, mais três excelentes momentos. “Pride Before a Fall”, um tema de 2004 em plena estreia ao vivo, segundo a banda, assentou que nem uma luva. A seguir, “I Want You to Stay” assumiu o papel de confissão desesperada e, como a cereja no topo de um bolo agridoce, “Our Velocity” fechou da melhor forma um concerto muito bem conseguido.
Antes dos Maximo Park, atuou o quarteto alfacinha Lissabon, banda que se mexe por uma amálgama de influências, que vão desde o psicadelismo dos 1970 até a registos indies, passando por um atraente synth pop característico do início dos 1980. No momento a promover o seu primeiro álbum, “If it’s Only Just a Dream”, os Lissabon são, na voz e guitarra, Pedro Lourenço, nas teclas Soraia Limão, no baixo e back vocals Inês Vicente e na bateria José Garcêz. Ao longo de cerca de 30 minutos, os Lissabon estiveram seguros, e, aos poucos, foram agarrando o público que já vai conhecendo temas como “Everytime (you Save the World)” e “I Promise, I Promise”. Sem dúvida, um projeto a ter em conta num futuro breve.
In Palco Principal
segunda-feira, 19 de novembro de 2012
Cowboy Junkies
CCB
Tour nómada
regresso do clã Timmins a Portugal resultou num (grande) concerto, com mais de duas horas de música, viagens no tempo, agradecimentos, incentivo ao consumo, mães e -espante-se - Cristiano Ronaldo, ídolo de Ed, filho de Margo, e objeto de desejo da vocalista.
Os Cowboys Junkies encerram o cartaz da edição 2012 do Misty Fest com duas datas ( hoje atuam no Porto). Ontem, Lisboa teve o privilégio de receber um dos grupos charneira do dito indie folk/country. Na bagagem trouxeram a sua nova aventura, um conjunto de quatro álbuns intitulado "The Nomad Series", que, no fundo, mostra aquilo que o grupo canadiano foi e sempre será: um misto de paixão, dolência, umas pitadas de rock e blues e muita, muita beleza.
Falar em beleza é também falar de Margo Timmins. Aos 51 anos, aquela que é, sem exagero, uma das vozes maiores do universo musical das últimas décadas, mantém todo o seu encanto, vocal (e outros), e continua a enfeitiçar a audiência. Sempre simpática e muito dialogante, conta histórias, sussurra canções fantásticas, fala connosco e sabe dar lugar à música. E é dela, da música, que essencialmente queremos falar.
O grande Auditório do Centro Cultural de Belém revelava um ambiente muito tranquilo enquanto se aguardava pela banda. Tal como as canções dos canadianos, o palco exibia-se simples, apenas com a ressalva para um centro de mesa com flores, que conferia um ambiente aconchegante.
Foi com “Wrong Piano”, uma das músicas mais tocadas nos recentes concertos da banda e que faz parte do tomo segundo (“Demons”) da Nomad Series, que os Junkies abriram o concerto. Guitarra à solta, bateria segura, baixo presente e Margo, elegante e muito doce. No final desta primeira música, somos esclarecidos que o espetáculo vai ter duas partes. Primeiro, e porque é preciso divulgar a nova música, seguem-se apenas temas dos últimos álbuns da banda; depois, sim, depois, os clássicos. Margo tranquiliza a audiência e confirma que se vai ouvir “Sweet Jane”…
Consciente que o público podia desconhecer o mais recente reportório, Margo ia apresentando as músicas e - muito importante - encorajava os presentes a comprar discos e merchandising da banda, pois nem só de palmas vivem os artistas. Ah, “e o Natal está mesmo a chegar…”, argumentava a vocalista.
A lindíssima “I Cannot Sit Sadly By Your Side”, de “Renmin Park”, volume primeiro destas séries nómadas, tem direito a uma performance fantástica. Margo, sentada perto dos ramos de flores, agarra-se ao microfone, canta, abre a alma e, sem artifícios, (en)canta. É tão fácil apaixonarmo-nos por uma voz assim…
À medida que as músicas iam surgindo, a sensação de familiaridade com as mesmas era quase imediata. “Stranger Here”, também retirada de “Renmin Park”, leva a banda por caminhos mais rock. Margo Timmins confessa que os “seus rapazes” adoraram fazer um disco mais “duro”.
A excelência da música destes canadianos vê-se em todos os momentos. Se nos registos mais intimistas brilha o jogo entre a música e a sua ausência, nas experiências mais rock, Mike, Pete, Jeff e Alan arregaçam mangas e fazem-nos bater o pé.
“See You Around”, de “Demons”, disco dois da aventura nómada e o preferido de Margo, é a deixa para uma pequena homenagem a Vic Chesnutt, malogrado companheiro de estrada da banda. Jeff Bird troca o bandolim pela harmónica e ficamos com um ambiente mais country. É a hora do acústico vencer a eletricidade. Como um passo de mágica, “Late Night Radio”, de “Sing in The Meadow”, devolve a energia ao palco e surgem alguns solos de guitarra por parte de Mike Timmins, guitarrista e autor da poesia da banda.
Uma das grandes ovações da noite surgiu com “Third Crusade”, também de “Sing In The Meadow”, numa versão intensa e crua. Margo aproveita a música e agarra a mesma. Afasta-se do microfone e olha para a bateria do seu irmão Pete. Sem reservas, todos os elementos dos Junkies são excelentes músicos e nós só podemos agradecer tanto talento.
Chega agora a vez de “Wildreness”, o último capítulo da “Nomad Series”, e o disco mais querido da mãe de Margo. Numa toada mais calma, ouvimos, de seguida, “Damage From The Star” e “Unanswered Letter (For JB)”. Antes da pausa, somos presenteados com “Fairytale”, provavelmente uma das mais bonitas composições de sempre dos canadianos. A honestidade com que os nossos sentidos sentem esta música leva-nos a recantos doces da memória. Repletos de sacarose, chegamos ao intervalo. “Na pausa aproveitem para comprar uma prenda de Natal. Temos muitas surpresas lá fora”, insistia Margo…
O regresso ao palco é feito com a muito esperada “Sweet Jane”, tema original de Lou Reed, reinventado pelos Junkies em “The Trinity Session”, disco seminal gravado em 1988 e que lançou definitivamente a banda canadiana nas bocas do mundo. Em ritmo blusy, estava lançada a segunda parte do concerto.
“Dreaming My Dreams With You”, também de “The Trinity Session”, foi a senhora que se seguiu em ambiente slow core, a lembrar os Low, e com os Cowboy Junkies a jogar com o silêncio e a ausência de luz. Uma verdadeira canção de embalar à moda de Toronto.
Tal como prometido, a segunda parte do concerto serviu para viajar sobre o passado da banda. O disco seguinte a ser revisitado foi “Lay It Down”, de 1996, e “Common Disaster” levou a audiência a sentir ambientes mais swingantes com bateria e o baixo a ditar leis e a guitarra a destilar alguns feedbacks. Seguiu-se “Cause Cheap is How I Feel”, de "Caution Horses", álbum de 1990, tema que fez bater os muitos pés presentes, que sentiam a voz de Margo a planar na sala.
A acalmia regressou com o tema título de “Lay it Down”, a ser apresentado de forma solene, com os quatro instrumentistas da banda a dar um verdadeiro recital em forma de tour de force. Margo Timmins sai do palco e deixa os “seus rapazes” recriarem-se.
Antes do próximo tema, “Don’t Let It Brig You Down”, de Neil Young, Margo voltou à conversa, sendo Cristiano Ronaldo o centro da mesma. Parece que Margo e seu filho são fãs do craque do Real Madrid. Se Ed gosta da qualidade futebolística de CR7, Margo confessa que é a estampa física de Cristiano que a fascina. A plateia reagiu com risos e aplausos. Depois, “A Horse In The Country”, de “Black Eyed Man”, trabalho de 1992, foi dedicada a todos as senhoras com mais de 50 primaveras, como a própria vocalista.
“My Little Basquiat” e “Good Friday”, temas de “All The End Of Paths Takes” e “Miles From Home”, respetivamente, antecederam um dos momentos altos da noite. “Misguided Angel”, um regresso a “The Trinity Session”, foi absolutamente brilhante, com laivos de perfeição.
Depois disto, a banda abandona o palco. A espera pelo encore foi curta e os primeiros acordes de “Blue Moon” aquecem corações e almas. A última canção da noite foi de uma intensidade brutal e foi natural uma merecida ovação de pé. Finalizado o concerto, vestem-se casacos, sai-se para a noite fria e escura mas, por dentro, sentimos calor, estamos em paz.
In Palco Principal
regresso do clã Timmins a Portugal resultou num (grande) concerto, com mais de duas horas de música, viagens no tempo, agradecimentos, incentivo ao consumo, mães e -espante-se - Cristiano Ronaldo, ídolo de Ed, filho de Margo, e objeto de desejo da vocalista.
Os Cowboys Junkies encerram o cartaz da edição 2012 do Misty Fest com duas datas ( hoje atuam no Porto). Ontem, Lisboa teve o privilégio de receber um dos grupos charneira do dito indie folk/country. Na bagagem trouxeram a sua nova aventura, um conjunto de quatro álbuns intitulado "The Nomad Series", que, no fundo, mostra aquilo que o grupo canadiano foi e sempre será: um misto de paixão, dolência, umas pitadas de rock e blues e muita, muita beleza.
Falar em beleza é também falar de Margo Timmins. Aos 51 anos, aquela que é, sem exagero, uma das vozes maiores do universo musical das últimas décadas, mantém todo o seu encanto, vocal (e outros), e continua a enfeitiçar a audiência. Sempre simpática e muito dialogante, conta histórias, sussurra canções fantásticas, fala connosco e sabe dar lugar à música. E é dela, da música, que essencialmente queremos falar.
O grande Auditório do Centro Cultural de Belém revelava um ambiente muito tranquilo enquanto se aguardava pela banda. Tal como as canções dos canadianos, o palco exibia-se simples, apenas com a ressalva para um centro de mesa com flores, que conferia um ambiente aconchegante.
Foi com “Wrong Piano”, uma das músicas mais tocadas nos recentes concertos da banda e que faz parte do tomo segundo (“Demons”) da Nomad Series, que os Junkies abriram o concerto. Guitarra à solta, bateria segura, baixo presente e Margo, elegante e muito doce. No final desta primeira música, somos esclarecidos que o espetáculo vai ter duas partes. Primeiro, e porque é preciso divulgar a nova música, seguem-se apenas temas dos últimos álbuns da banda; depois, sim, depois, os clássicos. Margo tranquiliza a audiência e confirma que se vai ouvir “Sweet Jane”…
Consciente que o público podia desconhecer o mais recente reportório, Margo ia apresentando as músicas e - muito importante - encorajava os presentes a comprar discos e merchandising da banda, pois nem só de palmas vivem os artistas. Ah, “e o Natal está mesmo a chegar…”, argumentava a vocalista.
A lindíssima “I Cannot Sit Sadly By Your Side”, de “Renmin Park”, volume primeiro destas séries nómadas, tem direito a uma performance fantástica. Margo, sentada perto dos ramos de flores, agarra-se ao microfone, canta, abre a alma e, sem artifícios, (en)canta. É tão fácil apaixonarmo-nos por uma voz assim…
À medida que as músicas iam surgindo, a sensação de familiaridade com as mesmas era quase imediata. “Stranger Here”, também retirada de “Renmin Park”, leva a banda por caminhos mais rock. Margo Timmins confessa que os “seus rapazes” adoraram fazer um disco mais “duro”.
A excelência da música destes canadianos vê-se em todos os momentos. Se nos registos mais intimistas brilha o jogo entre a música e a sua ausência, nas experiências mais rock, Mike, Pete, Jeff e Alan arregaçam mangas e fazem-nos bater o pé.
“See You Around”, de “Demons”, disco dois da aventura nómada e o preferido de Margo, é a deixa para uma pequena homenagem a Vic Chesnutt, malogrado companheiro de estrada da banda. Jeff Bird troca o bandolim pela harmónica e ficamos com um ambiente mais country. É a hora do acústico vencer a eletricidade. Como um passo de mágica, “Late Night Radio”, de “Sing in The Meadow”, devolve a energia ao palco e surgem alguns solos de guitarra por parte de Mike Timmins, guitarrista e autor da poesia da banda.
Uma das grandes ovações da noite surgiu com “Third Crusade”, também de “Sing In The Meadow”, numa versão intensa e crua. Margo aproveita a música e agarra a mesma. Afasta-se do microfone e olha para a bateria do seu irmão Pete. Sem reservas, todos os elementos dos Junkies são excelentes músicos e nós só podemos agradecer tanto talento.
Chega agora a vez de “Wildreness”, o último capítulo da “Nomad Series”, e o disco mais querido da mãe de Margo. Numa toada mais calma, ouvimos, de seguida, “Damage From The Star” e “Unanswered Letter (For JB)”. Antes da pausa, somos presenteados com “Fairytale”, provavelmente uma das mais bonitas composições de sempre dos canadianos. A honestidade com que os nossos sentidos sentem esta música leva-nos a recantos doces da memória. Repletos de sacarose, chegamos ao intervalo. “Na pausa aproveitem para comprar uma prenda de Natal. Temos muitas surpresas lá fora”, insistia Margo…
O regresso ao palco é feito com a muito esperada “Sweet Jane”, tema original de Lou Reed, reinventado pelos Junkies em “The Trinity Session”, disco seminal gravado em 1988 e que lançou definitivamente a banda canadiana nas bocas do mundo. Em ritmo blusy, estava lançada a segunda parte do concerto.
“Dreaming My Dreams With You”, também de “The Trinity Session”, foi a senhora que se seguiu em ambiente slow core, a lembrar os Low, e com os Cowboy Junkies a jogar com o silêncio e a ausência de luz. Uma verdadeira canção de embalar à moda de Toronto.
Tal como prometido, a segunda parte do concerto serviu para viajar sobre o passado da banda. O disco seguinte a ser revisitado foi “Lay It Down”, de 1996, e “Common Disaster” levou a audiência a sentir ambientes mais swingantes com bateria e o baixo a ditar leis e a guitarra a destilar alguns feedbacks. Seguiu-se “Cause Cheap is How I Feel”, de "Caution Horses", álbum de 1990, tema que fez bater os muitos pés presentes, que sentiam a voz de Margo a planar na sala.
A acalmia regressou com o tema título de “Lay it Down”, a ser apresentado de forma solene, com os quatro instrumentistas da banda a dar um verdadeiro recital em forma de tour de force. Margo Timmins sai do palco e deixa os “seus rapazes” recriarem-se.
Antes do próximo tema, “Don’t Let It Brig You Down”, de Neil Young, Margo voltou à conversa, sendo Cristiano Ronaldo o centro da mesma. Parece que Margo e seu filho são fãs do craque do Real Madrid. Se Ed gosta da qualidade futebolística de CR7, Margo confessa que é a estampa física de Cristiano que a fascina. A plateia reagiu com risos e aplausos. Depois, “A Horse In The Country”, de “Black Eyed Man”, trabalho de 1992, foi dedicada a todos as senhoras com mais de 50 primaveras, como a própria vocalista.
“My Little Basquiat” e “Good Friday”, temas de “All The End Of Paths Takes” e “Miles From Home”, respetivamente, antecederam um dos momentos altos da noite. “Misguided Angel”, um regresso a “The Trinity Session”, foi absolutamente brilhante, com laivos de perfeição.
Depois disto, a banda abandona o palco. A espera pelo encore foi curta e os primeiros acordes de “Blue Moon” aquecem corações e almas. A última canção da noite foi de uma intensidade brutal e foi natural uma merecida ovação de pé. Finalizado o concerto, vestem-se casacos, sai-se para a noite fria e escura mas, por dentro, sentimos calor, estamos em paz.
In Palco Principal
sexta-feira, 9 de novembro de 2012
Peter Hook & The Light
CCB
Uma luz na escuridão
Devoção, festa, solenidade, entrega, paixão e saudade. Estas são algumas das definições possíveis para aquilo que ontem se ouviu, viu e, essencialmente, sentiu no grande auditório do Centro Cultural de Belém. Com a sala muito bem composta, a expetativa sentia-se a cada minuto que ficava para trás. Que esperar deste concerto? Que esperar de Peter Hook e dos “seus” The Light?
Ainda que se vissem alguns jovens no CCB, a maior parte do público exibia com muito orgulho alguns cabelos brancos. As memórias de uma juventude tingida de negro e revestida de gabardinas era exultada por muitos enquanto a hora de aproximava. Já perto da entrada de Mr. Hook e companhia em palco, o PA tocava em alto e bom som “Dirty Old Town”, dos Pogues. A festa estava prestes a começar.
Tal como foi prometido (ver entrevista de Peter Hook ao Palco Principal) o concerto começou com “Atmosphere”, um dos maiores hinos dos Joy Division, tendo o final desta verdadeira demanda musical sido assinalado com “Ceremony”. Ao todo foram tocadas 22 canções. Vinte e dois pedaços de música, vida e celebração.
De forma algo tímida, Peter Hook e dos The Light (Nat Wason na guitarra, Jack Bates - filho de Hook -, no baixo, Paul Kehoe na bateria e Andy Poole nas teclas) atiraram-se a “No Love Lost”, “Leades of Men” e a uma brilhante, eletrizante e muito aplaudida “Digital”. O espírito punk estava nas entrelinhas de cada acorde. Peter Hook começava a suar…
Ao quinto tema chega o incontornável “Unknown Pleassures”. “Disorder” ecoa pela sala. As pessoas batem palmas, agarram o som como podem e as cadeiras começam a ser algo dispensável. Os corpos agitam-se, o povo quer dançar, pular, saltar. O frenesim cresce. À medida que o alinhamento do álbum de estreia dos Joy Division (editado em 1979) avança, a atmosfera ganha contornos de ritual. Estava-se perante uma cerimónia.
Peter Hook, muito bem secundado por Jack Bates no baixo, deixa-se levar pelo ato de cantar, concentra-se nas palavras de Ian Curtis. Hoje, Hooky não é apenas o baixista - é o frontman, é o líder. Passou de uma posição lateral do palco para o coração do mesmo. A ele não se pede que faça de Curtis, desculpem o sacrilégio. A sua função é celebrar a poesia de Ian e a magia musical de Bernard, Stephen e sua.
“Day of the Lords”, “Candidate”, “Insight” e “New Dawn Fades” sucedem-se. A bateria maquinal, minimal, está bem viva. Os curtos solos de guitarra são um produto desta nova abordagem à música dos Joy Division e as teclas complementam o espírito mais frio de algumas composições da banda nascida em Manchester.
Mas é com os primeiros acordes de “She’s Lost Control” que a plateia acorda. As cadeiras ficam para trás e algumas pessoas vão em direção do palco. Primeiro uma, depois duas. Dezenas junto ao palco. Agora sim, é um concerto de rock! Hook sorri, cumprimenta os recém-chegados. A música faz o resto e dá as boas-vindas à alegria que se junta agora ao palco.
A meio do concerto é impossível não pensar na genialidade das músicas dos Joy Division. Com apenas dois álbuns de originais e alguns EP’s, um grupo de quatro rapazes com origens humildes e a viver os dramas da working class de Manchester do final dos anos 1970, conseguiram um espólio de canções que vão, para sempre, não só marcar uma geração, mas a própria história da música. O punk revisitado, o negrume das palavras de Ian Curtis, a guitarra melancólica de Bernard Sumner, a bateria maquinal de Stephen Morris e o baixo acutilante de Peter Hook fizeram muita gente querer aprender música, fazer poesia, tocar na alma dos outros. Por que decidiste partir, Ian?
“Shadowplay”, uma das mais emblemáticas canções dos Joy Division, leva a multidão a bater palmas. Os que estão sentados, levantam-se e ficam de pé até ao fim do espetáculo. Os que estão estão de pernas esticadas saltam, dançam, cantam. O swing que brota das cordas de Peter Hook, que toca o baixo como se de uma guitarra se tratasse, não deixa ninguém indiferente. A cerimónia está no seu auge!
Com palmas a compasso surge “Interzone”, numa versão mariachi. Hook, aos saltos, aproxima-se da beira do palco e aos seguranças entalados entre os fãs e o palco não resta outra coisa senão sorrir. O ambiente acalma com a chegada de “I Remember Nothing”, última faixa de “Unkown Pleasures”. É tempo de sentir as palavras, de sentir parte de um ato de verdadeiro xamanismo. São evocadas sombras da memória, pois isto não é apenas um concerto. Antes da música acabar, Hook abandona o palco e os The Light brilham e fazem uma jam session demasiado curta.
Já com a imagem de “Closer” no palco, Peter Hook e os The Light tocam “Heart and Soul”. Restavam poucas dúvidas, mas esta banda toca o legado dos Joy Division com uma dedicação ímpar e um dramatismo muito competente. Isso reflecte-se, e bem, nos próximos temas. “Isolation”, fantástico, “Twenty four hours” e “Decades” são punk até à medula! Também ele extasiado, Peter Hook, parco em palavras, agradece em português, depois de fechar com “Decades” e tocar um pequeno órgão de sopro. Hook deixa o palco. Os The Light ficam e saem minutos mais tarde.
O fim da cerimónia chegaria com mais quatro temas emblemáticos. “Dead Souls” é tocado com Peter Hook, agora em T-shirt, e a exclamar a loucura presente. “You are fucking wild, you know?”, perguntava ao público em delírio. Sem esperas, “Transmission” já está no ar, e todos, mas mesmo todos, dançam ao som desta rádio particular. Mas é com “Love Will Tears Us Apart” que a casa vai quase a baixo. Hook, também ele extasiado, vem para o lado do palco e fica a olhar para a festa em que ele próprio é o mestre de cerimónia. Uma hora e 45 minutos depois, surge “Ceremony”, tocada com uma honestidade desarmante.
No final, Hook e seus pares receberem uma monumental ovação e o baixista, hoje também vocalista, despe a camisola, suada, e oferece-a à multidão. Um final digno de uma estrela de futebol depois de um jogo que acabou em goleada de emoções. Até já, Mr. Hook. Até sempre, Joy Division.
A primeira parte esteve a cargo dos UNI_FORM, banda lisboeta composta por Billy (nas vozes e guitarra) David Francisco (baixo e back vocals), Miguel Moreira (guitarra e sintetizadores) e Nuno Francisco (bateria). Durante meia hora, tocaram seis temas do seu reportório, sendo que, neste momento, promovem, “1984”, segundo longa-duração da banda, inspirado na obra de George Orwell. As influências da banda são demasiados evidentes (por vezes perto do som de uns Interpol ou She Wants Revenge) e não se estranhou o convite de Peter Hook feito aos UNI_FORM para abrir o espetáculo. A plateia reagiu muito bem a esta apresentação, que contou com uma componente cénica muito interessante. Portugal precisa de projetos assim.
In Palco Principal
Devoção, festa, solenidade, entrega, paixão e saudade. Estas são algumas das definições possíveis para aquilo que ontem se ouviu, viu e, essencialmente, sentiu no grande auditório do Centro Cultural de Belém. Com a sala muito bem composta, a expetativa sentia-se a cada minuto que ficava para trás. Que esperar deste concerto? Que esperar de Peter Hook e dos “seus” The Light?
Ainda que se vissem alguns jovens no CCB, a maior parte do público exibia com muito orgulho alguns cabelos brancos. As memórias de uma juventude tingida de negro e revestida de gabardinas era exultada por muitos enquanto a hora de aproximava. Já perto da entrada de Mr. Hook e companhia em palco, o PA tocava em alto e bom som “Dirty Old Town”, dos Pogues. A festa estava prestes a começar.
Tal como foi prometido (ver entrevista de Peter Hook ao Palco Principal) o concerto começou com “Atmosphere”, um dos maiores hinos dos Joy Division, tendo o final desta verdadeira demanda musical sido assinalado com “Ceremony”. Ao todo foram tocadas 22 canções. Vinte e dois pedaços de música, vida e celebração.
De forma algo tímida, Peter Hook e dos The Light (Nat Wason na guitarra, Jack Bates - filho de Hook -, no baixo, Paul Kehoe na bateria e Andy Poole nas teclas) atiraram-se a “No Love Lost”, “Leades of Men” e a uma brilhante, eletrizante e muito aplaudida “Digital”. O espírito punk estava nas entrelinhas de cada acorde. Peter Hook começava a suar…
Ao quinto tema chega o incontornável “Unknown Pleassures”. “Disorder” ecoa pela sala. As pessoas batem palmas, agarram o som como podem e as cadeiras começam a ser algo dispensável. Os corpos agitam-se, o povo quer dançar, pular, saltar. O frenesim cresce. À medida que o alinhamento do álbum de estreia dos Joy Division (editado em 1979) avança, a atmosfera ganha contornos de ritual. Estava-se perante uma cerimónia.
Peter Hook, muito bem secundado por Jack Bates no baixo, deixa-se levar pelo ato de cantar, concentra-se nas palavras de Ian Curtis. Hoje, Hooky não é apenas o baixista - é o frontman, é o líder. Passou de uma posição lateral do palco para o coração do mesmo. A ele não se pede que faça de Curtis, desculpem o sacrilégio. A sua função é celebrar a poesia de Ian e a magia musical de Bernard, Stephen e sua.
“Day of the Lords”, “Candidate”, “Insight” e “New Dawn Fades” sucedem-se. A bateria maquinal, minimal, está bem viva. Os curtos solos de guitarra são um produto desta nova abordagem à música dos Joy Division e as teclas complementam o espírito mais frio de algumas composições da banda nascida em Manchester.
Mas é com os primeiros acordes de “She’s Lost Control” que a plateia acorda. As cadeiras ficam para trás e algumas pessoas vão em direção do palco. Primeiro uma, depois duas. Dezenas junto ao palco. Agora sim, é um concerto de rock! Hook sorri, cumprimenta os recém-chegados. A música faz o resto e dá as boas-vindas à alegria que se junta agora ao palco.
A meio do concerto é impossível não pensar na genialidade das músicas dos Joy Division. Com apenas dois álbuns de originais e alguns EP’s, um grupo de quatro rapazes com origens humildes e a viver os dramas da working class de Manchester do final dos anos 1970, conseguiram um espólio de canções que vão, para sempre, não só marcar uma geração, mas a própria história da música. O punk revisitado, o negrume das palavras de Ian Curtis, a guitarra melancólica de Bernard Sumner, a bateria maquinal de Stephen Morris e o baixo acutilante de Peter Hook fizeram muita gente querer aprender música, fazer poesia, tocar na alma dos outros. Por que decidiste partir, Ian?
“Shadowplay”, uma das mais emblemáticas canções dos Joy Division, leva a multidão a bater palmas. Os que estão sentados, levantam-se e ficam de pé até ao fim do espetáculo. Os que estão estão de pernas esticadas saltam, dançam, cantam. O swing que brota das cordas de Peter Hook, que toca o baixo como se de uma guitarra se tratasse, não deixa ninguém indiferente. A cerimónia está no seu auge!
Com palmas a compasso surge “Interzone”, numa versão mariachi. Hook, aos saltos, aproxima-se da beira do palco e aos seguranças entalados entre os fãs e o palco não resta outra coisa senão sorrir. O ambiente acalma com a chegada de “I Remember Nothing”, última faixa de “Unkown Pleasures”. É tempo de sentir as palavras, de sentir parte de um ato de verdadeiro xamanismo. São evocadas sombras da memória, pois isto não é apenas um concerto. Antes da música acabar, Hook abandona o palco e os The Light brilham e fazem uma jam session demasiado curta.
Já com a imagem de “Closer” no palco, Peter Hook e os The Light tocam “Heart and Soul”. Restavam poucas dúvidas, mas esta banda toca o legado dos Joy Division com uma dedicação ímpar e um dramatismo muito competente. Isso reflecte-se, e bem, nos próximos temas. “Isolation”, fantástico, “Twenty four hours” e “Decades” são punk até à medula! Também ele extasiado, Peter Hook, parco em palavras, agradece em português, depois de fechar com “Decades” e tocar um pequeno órgão de sopro. Hook deixa o palco. Os The Light ficam e saem minutos mais tarde.
O fim da cerimónia chegaria com mais quatro temas emblemáticos. “Dead Souls” é tocado com Peter Hook, agora em T-shirt, e a exclamar a loucura presente. “You are fucking wild, you know?”, perguntava ao público em delírio. Sem esperas, “Transmission” já está no ar, e todos, mas mesmo todos, dançam ao som desta rádio particular. Mas é com “Love Will Tears Us Apart” que a casa vai quase a baixo. Hook, também ele extasiado, vem para o lado do palco e fica a olhar para a festa em que ele próprio é o mestre de cerimónia. Uma hora e 45 minutos depois, surge “Ceremony”, tocada com uma honestidade desarmante.
No final, Hook e seus pares receberem uma monumental ovação e o baixista, hoje também vocalista, despe a camisola, suada, e oferece-a à multidão. Um final digno de uma estrela de futebol depois de um jogo que acabou em goleada de emoções. Até já, Mr. Hook. Até sempre, Joy Division.
A primeira parte esteve a cargo dos UNI_FORM, banda lisboeta composta por Billy (nas vozes e guitarra) David Francisco (baixo e back vocals), Miguel Moreira (guitarra e sintetizadores) e Nuno Francisco (bateria). Durante meia hora, tocaram seis temas do seu reportório, sendo que, neste momento, promovem, “1984”, segundo longa-duração da banda, inspirado na obra de George Orwell. As influências da banda são demasiados evidentes (por vezes perto do som de uns Interpol ou She Wants Revenge) e não se estranhou o convite de Peter Hook feito aos UNI_FORM para abrir o espetáculo. A plateia reagiu muito bem a esta apresentação, que contou com uma componente cénica muito interessante. Portugal precisa de projetos assim.
In Palco Principal
quarta-feira, 7 de novembro de 2012
Peter Hook em entrevista
"Sinto-me muito bem a cantar as palavras do Ian [Curtis]"
Um dos baixistas mais influentes da história da música moderna, Peter Hook, agora na companhia dos The Light, traz-nos esta semana, com saudade, a música da sua banda de sempre - os Joy Division. Na bagagem vêm alguns dos temas mais marcantes da curta história dos quatro de Manchester, assim como a revisitação, na íntegra, do seu primeiro disco, "Unkown Pleasures". Antes do muito esperado no Centro Cultural de Belém, inserido na programação do Misty Fest 2012, tivemos à conversa com Mr. Hook. E que conversa!
Palco Principal - É indiscutível que os Joy Division marcaram um período importante da música dita moderna do final dos 1970 e início dos 1980. Passadas três décadas, ainda sente o peso dessa influência?
Peter Hook – Sim, ainda hoje sinto a influência dos Joy Division, particularmente em bandas como os White Lies, Interpool, Editors… Penso que tanto eu como o Barney, o Steve e o próprio Ian, nos sentimos muito elogiados pelo facto de, 30 anos depois, a nossa música ainda inspirar muitas das grandes bandas da nova geração.
PP - Apesar dos arranjos musicais dos Joy Division serem uma das suas imagens mais fortes, muita da «verdade» da banda resultava das palavras de Ian. O que sente ao cantá-las?
PH - Bem, a ideia inicial era ter vários cantores no projeto, mas, devido aos comentários menos positivos sobre os nossos primeiros espetáculos no Reino Unido, decidimos abandonar esse plano. Assim, comecei eu a assumir o papel de cantor. A experiência acabou por resultar, até porque, assim, conseguimos ter um membro original dos Joy Division a cantar as palavras do Ian. No início, era estranho e até um pouco difícil fazê-lo, mas, com o passar do tempo, as coisas começaram a ser bem mais fáceis. Sinto-me muito bem a cantar as palavras do Ian, porque agora posso apreciar ainda mais o quão boa a sua poesia era. Algumas das canções têm muitas palavras e outras poucas, mas todas resultam de forma brilhante. O Ian era genial.
PP - Já muito se escreveu e falou sobre os Joy Division. Fizeram-se tributos, documentários e filmes, mas até que ponto os fãs têm conhecimento da verdadeira história dos quatro de Manchester?
PH - Penso que existe uma ideia errada de que os Joy Division eram sossegados, misteriosos e muito arty. Na realidade, nós éramos apenas um grupo de rapazes que tocava rock. Isso demonstra que as pessoas não conheciam, de facto, a verdadeira história dos Joy Division. Muitos livros foram publicados sobre nós e a grande maioria foi escrita por pessoas que não viveram a nossa história, que não sabiam quem somos nem de onde viemos. Penso que foi essa uma das principais razões que me levou a escrever o meu próprio livro (“Unknown Pleasures: Inside Joy Division”) sobre a banda: poder contar às pessoas como nós éramos realmente! Ainda assim, penso que o filme de Anton Corbijn, “Control”, foi a tentativa mais bem conseguida de nos retratar, e isso porque o Anton nos conhecia muito bem e viveu muito o final dos anos 70 connosco.
PP - “Unknown Pleasures: Inside Joy Division” ainda não tem edição em português…
PH - Ainda não há uma edição portuguesa, mas estamos confiantes que isso aconteça no futuro. O livro foi publicado em francês e japonês, e já falei com editores em Espanha e Itália para a tradução deste livro, por isso esperamos que seja possível uma edição em português - o que eu adoraria, porque os fãs que temos em Portugal e no Brasil são maravilhosos. Penso que este livro é uma boa forma de aprender a história dos Joy Division, pois é a primeira vez que um membro da banda escreve sobre o tema. Espero que as pessoas gostem de o ler. Contei a história de acordo com a verdade que retenho na minha memória.
PP - Para si, os Joy Division morreram com o suicídio de Ian Curtis?
PH - Quando o Ian morreu, nós formámos os New Order logo de seguida. Penso que o fizemos como uma forma de lidar com o suicídio dele. Mas não concordo com o facto dos Joy Division terem morrido com o desaparecimento do Ian, pois, na verdade, a banda é hoje maior do que era no seu tempo e o espírito de Ian vive através das suas canções, que todos nós ajudámos a criar. Isso não se reflete apenas através da nossa música, mas também graças às gerações de pessoas que estão sempre a descobri-la e às novas gerações de bandas que nos referem muitas vezes como uma das suas maiores influências. É por isso que digo que os Joy Division continuam muito vivos, independentemente de eu estar, ou não, a tocar a sua música de novo.
PP - A música e poesia patente nos discos dos Joy Division revelam-se muito introspetivas, sérias, depressivas. Era esse um sentimento presente nos quatro ou uma forma de catarse?
PH - Muita gente pergunta-nos: “Vocês não perceberam que o Ian estava infeliz através das letras dele?”. Não, não tínhamos essa consciência. Muitas vezes não conseguíamos sequer entender o que o Ian dizia, pois o equipamento sonoro nos nossos concertos era tão mau, que as letras eram impercetíveis! Hoje, que canto essas mesmas canções, percebo o dramatismo das mesmas… Mas, obviamente, é tarde demais. Não diria que, como pessoas, somos muito sérios e introspetivos. Nós éramos apenas rapazes normais. É claro que, com o passar do tempo, as pessoas mudam. Por exemplo, eu e o Barney acabámos por cortar relações… Mas a vida é mesmo assim.
PP - Pelo que sabemos, enquanto New Order, só tocaram as músicas dos Joy Division uma ou duas vezes e as coisas não resultaram muito bem. Porquê voltar a eles três décadas depois?
PH - Enquanto New Order, e antes da banda se separar em 2006, fizemos um concerto no âmbito da luta contra o Cancro em 2005 (“Manchester vs Cancer”), no qual tocámos muitas canções dos Joy Division, e eu lembro-me que foi fantástico poder tocar temas como “24 hours” e “Shes Lost Control” depois de tantos anos. Um ano mais tarde, em 2006, tocámos em Wembley um set com oito canções dos Joy Division e eu adorei, assim como os fãs (penso eu), mas o Barney não gostou! Em 2010, 30 anos depois da morte de Ian, surgiu a ideia de se fazer um tributo em forma de concerto na sua terra natal, Macclesfield, e eu e o Steven Morris, assim como outros cantores, concordámos em participar. Mas depois, infelizmente, a ideia não teve seguimento e eu achei uma pena não haver uma celebração dos trinta anos do falecimento do Ian, como agradecimento ao grande homem que ele foi e ao fantástico legado que nos deixou. Então decidimos juntar uma banda e tocar o “Unknown Pleasures” na íntegra, num concerto que apoiou duas causas – a Mente (no âmbito do Mental Health Charity) e também o apelo de Keith Bennett, que, sendo pai, me tocou muito. Este concerto único em Manchester rapidamente se transformou em dois, uma vez que a procura foi brutal e esgotou muito rapidamente. Depois disso, muita gente pelo mundo fora me pediu para fazer uma tour com este espetáculo, e foi no seguimento dessa ideia que chegamos agora a Portugal! Vai ser muito gratificante tocar em Lisboa, finalmente - tenho tentado fazê-lo desde o início. Gosto de pensar que levar este espetáculo em digressão é oferecer às pessoas a oportunidade de ouvirem estas músicas ao vivo e também a nossa forma de prestar homenagem ao Ian.
PP - Nos vossos espetáculos também tocam temas de “Closer” e alguns do tempo de “Warsaw”. Como é feita a escolha dos temas a tocar?
PH - Nós gostamos de tocar o alinhamento de forma cronológica – isso significa que vamos começar com o material mais antigo de “Warsaw” e depois tocamos o “Unkown Pleasures”, que representa grande parte do alinhamento. Depois de tocarmos o álbum completo, tocamos material de “Closer” e outras canções que são, de alguma forma, raridades. Gosto de mudar o alinhamento o mais possível, de forma a oferecer o maior conjunto de canções possível às pessoas, e também porque torna as nossas atuações mais «frescas» e entusiasmantes para mim e para o resto da banda. Já tocámos todas as canções dos Joy Division nos nossos concertos pelo mundo inteiro, o que representa um grande feito. Os rapazes da minha banda – Jack, Nat, Andy e o Paul – têm feito um trabalho notável e são todos muito empenhados.
PP - Quando está a tocar estas músicas com uma banda diferente, não sente que está a fazer um tributo a si mesmo?
PH - Por vezes, as pessoas criticam-me e dizem que estou numa banda de tributo a mim mesmo, mas eu não vejo as coisas assim. Fiz parte dos Joy Division e ajudei a criar e a escrever aquelas músicas, por isso penso que é normal tocar essas composições ao vivo. Mais: acho que o facto de tocar o álbum na íntegra significa que tudo isto é mais do que fazer um tributo. Se tocares apenas os maiores êxitos da banda todas as noites, como esta nova versão dos “New Order” tem feito, aí sim, corres o risco de parecer uma banda de tributo. Esta nova versão é um tributo sim - um tributo àquilo que os verdadeiros New Order foram.
PP - Como sente o panorama musical de Manchester hoje?
PH - Manchester produziu música fantástica ao longo dos anos... Talvez isso possa estar relacionado com a metereologia local. Chove muito e, por isso, as pessoas ficam em casa a fazer música (risos). Ainda existe música muito interessante em Manchester. Por exemplo, depois de tocarmos em Portugal, seguimos viagem para o Reino Unido e vamos atuar com duas novas bandas de Manchester: “The Shines” e Tiny Phillips”. São ambos projetos muito interessantes e, para mim, mostram que o futuro da música de Manchester está em boas mãos.
PP - Ainda consegue, hoje, escrever uma canção em duas horas, como fazia com os Joy Division?
PH - Os Joy Division eram muito prolíferos, pois a química entre os elementos da banda era absolutamente fantástica – sempre que ensaiávamos, nascia uma nova canção. Era um processo muito fácil. Quando fizemos os New Order, as coisas tornaram-se mais difíceis, pois alguns membros da banda insistiam em fazer pós-produção em todo o material, o que retirou algum gozo ao processo criativo… Pelo menos para mim. Isso fez com que cada disco fosse mais demorado a sair, além de que as relações entre nós, enquanto membros da banda, não eram as melhores. Enquanto Joy Division, a tecnologia não era óptima, então nós tínhamos realmente que nos sentar numa sala com os nossos instrumentos e tocar todos juntos para fazer a canção. Hoje em dia, temos tantos computadores e diferentes programas digitais que deixamos que as máquinas assumam o papel principal na criação, o que é uma pena.
PP - O que podem esperar os fãs de Joy Division do vosso espectáculo em Portugal, no âmbito do Misty Fest?
PH - Podem esperar ouvir o “Unknown Pleasures” completo, assim como muitas músicas do catálogo da banda – podem ter a certeza que todas as canções vão ser tocadas com muito respeito e fidelidade, uma vez que todos os membros da banda reconhecem o valor das músicas e respeitam a sua identidade e o que significam para os fãs. Estou ainda a decidir o alinhamento definitivo que vamos tocar em Portugal - é muito bom, pois as pessoas escrevem no nosso facebook o que gostariam de ouvir e eu dou bastante importância a isso. Até agora, temos pedidos para tocarmos o “Atmosphere” e o “Ceremony”, e vamos, decididamente, tocar essas duas. O resto vai ser surpresa! Tivemos um concerto fantástico no Porto em Fevereiro de 2011, na Casa da Música, e participámos no maravilhoso Festival Paredes de Coura em 2010. Em ambas as experiências, o público português foi do melhor que alguma vez já conhecemos e espero que no dia 8 de Novembro isso se repita. Estamos muito ansiosos por tocar para vocês.
In Palco Principal
Um dos baixistas mais influentes da história da música moderna, Peter Hook, agora na companhia dos The Light, traz-nos esta semana, com saudade, a música da sua banda de sempre - os Joy Division. Na bagagem vêm alguns dos temas mais marcantes da curta história dos quatro de Manchester, assim como a revisitação, na íntegra, do seu primeiro disco, "Unkown Pleasures". Antes do muito esperado no Centro Cultural de Belém, inserido na programação do Misty Fest 2012, tivemos à conversa com Mr. Hook. E que conversa!
Palco Principal - É indiscutível que os Joy Division marcaram um período importante da música dita moderna do final dos 1970 e início dos 1980. Passadas três décadas, ainda sente o peso dessa influência?
Peter Hook – Sim, ainda hoje sinto a influência dos Joy Division, particularmente em bandas como os White Lies, Interpool, Editors… Penso que tanto eu como o Barney, o Steve e o próprio Ian, nos sentimos muito elogiados pelo facto de, 30 anos depois, a nossa música ainda inspirar muitas das grandes bandas da nova geração.
PP - Apesar dos arranjos musicais dos Joy Division serem uma das suas imagens mais fortes, muita da «verdade» da banda resultava das palavras de Ian. O que sente ao cantá-las?
PH - Bem, a ideia inicial era ter vários cantores no projeto, mas, devido aos comentários menos positivos sobre os nossos primeiros espetáculos no Reino Unido, decidimos abandonar esse plano. Assim, comecei eu a assumir o papel de cantor. A experiência acabou por resultar, até porque, assim, conseguimos ter um membro original dos Joy Division a cantar as palavras do Ian. No início, era estranho e até um pouco difícil fazê-lo, mas, com o passar do tempo, as coisas começaram a ser bem mais fáceis. Sinto-me muito bem a cantar as palavras do Ian, porque agora posso apreciar ainda mais o quão boa a sua poesia era. Algumas das canções têm muitas palavras e outras poucas, mas todas resultam de forma brilhante. O Ian era genial.
PP - Já muito se escreveu e falou sobre os Joy Division. Fizeram-se tributos, documentários e filmes, mas até que ponto os fãs têm conhecimento da verdadeira história dos quatro de Manchester?
PH - Penso que existe uma ideia errada de que os Joy Division eram sossegados, misteriosos e muito arty. Na realidade, nós éramos apenas um grupo de rapazes que tocava rock. Isso demonstra que as pessoas não conheciam, de facto, a verdadeira história dos Joy Division. Muitos livros foram publicados sobre nós e a grande maioria foi escrita por pessoas que não viveram a nossa história, que não sabiam quem somos nem de onde viemos. Penso que foi essa uma das principais razões que me levou a escrever o meu próprio livro (“Unknown Pleasures: Inside Joy Division”) sobre a banda: poder contar às pessoas como nós éramos realmente! Ainda assim, penso que o filme de Anton Corbijn, “Control”, foi a tentativa mais bem conseguida de nos retratar, e isso porque o Anton nos conhecia muito bem e viveu muito o final dos anos 70 connosco.
PP - “Unknown Pleasures: Inside Joy Division” ainda não tem edição em português…
PH - Ainda não há uma edição portuguesa, mas estamos confiantes que isso aconteça no futuro. O livro foi publicado em francês e japonês, e já falei com editores em Espanha e Itália para a tradução deste livro, por isso esperamos que seja possível uma edição em português - o que eu adoraria, porque os fãs que temos em Portugal e no Brasil são maravilhosos. Penso que este livro é uma boa forma de aprender a história dos Joy Division, pois é a primeira vez que um membro da banda escreve sobre o tema. Espero que as pessoas gostem de o ler. Contei a história de acordo com a verdade que retenho na minha memória.
PP - Para si, os Joy Division morreram com o suicídio de Ian Curtis?
PH - Quando o Ian morreu, nós formámos os New Order logo de seguida. Penso que o fizemos como uma forma de lidar com o suicídio dele. Mas não concordo com o facto dos Joy Division terem morrido com o desaparecimento do Ian, pois, na verdade, a banda é hoje maior do que era no seu tempo e o espírito de Ian vive através das suas canções, que todos nós ajudámos a criar. Isso não se reflete apenas através da nossa música, mas também graças às gerações de pessoas que estão sempre a descobri-la e às novas gerações de bandas que nos referem muitas vezes como uma das suas maiores influências. É por isso que digo que os Joy Division continuam muito vivos, independentemente de eu estar, ou não, a tocar a sua música de novo.
PP - A música e poesia patente nos discos dos Joy Division revelam-se muito introspetivas, sérias, depressivas. Era esse um sentimento presente nos quatro ou uma forma de catarse?
PH - Muita gente pergunta-nos: “Vocês não perceberam que o Ian estava infeliz através das letras dele?”. Não, não tínhamos essa consciência. Muitas vezes não conseguíamos sequer entender o que o Ian dizia, pois o equipamento sonoro nos nossos concertos era tão mau, que as letras eram impercetíveis! Hoje, que canto essas mesmas canções, percebo o dramatismo das mesmas… Mas, obviamente, é tarde demais. Não diria que, como pessoas, somos muito sérios e introspetivos. Nós éramos apenas rapazes normais. É claro que, com o passar do tempo, as pessoas mudam. Por exemplo, eu e o Barney acabámos por cortar relações… Mas a vida é mesmo assim.
PP - Pelo que sabemos, enquanto New Order, só tocaram as músicas dos Joy Division uma ou duas vezes e as coisas não resultaram muito bem. Porquê voltar a eles três décadas depois?
PH - Enquanto New Order, e antes da banda se separar em 2006, fizemos um concerto no âmbito da luta contra o Cancro em 2005 (“Manchester vs Cancer”), no qual tocámos muitas canções dos Joy Division, e eu lembro-me que foi fantástico poder tocar temas como “24 hours” e “Shes Lost Control” depois de tantos anos. Um ano mais tarde, em 2006, tocámos em Wembley um set com oito canções dos Joy Division e eu adorei, assim como os fãs (penso eu), mas o Barney não gostou! Em 2010, 30 anos depois da morte de Ian, surgiu a ideia de se fazer um tributo em forma de concerto na sua terra natal, Macclesfield, e eu e o Steven Morris, assim como outros cantores, concordámos em participar. Mas depois, infelizmente, a ideia não teve seguimento e eu achei uma pena não haver uma celebração dos trinta anos do falecimento do Ian, como agradecimento ao grande homem que ele foi e ao fantástico legado que nos deixou. Então decidimos juntar uma banda e tocar o “Unknown Pleasures” na íntegra, num concerto que apoiou duas causas – a Mente (no âmbito do Mental Health Charity) e também o apelo de Keith Bennett, que, sendo pai, me tocou muito. Este concerto único em Manchester rapidamente se transformou em dois, uma vez que a procura foi brutal e esgotou muito rapidamente. Depois disso, muita gente pelo mundo fora me pediu para fazer uma tour com este espetáculo, e foi no seguimento dessa ideia que chegamos agora a Portugal! Vai ser muito gratificante tocar em Lisboa, finalmente - tenho tentado fazê-lo desde o início. Gosto de pensar que levar este espetáculo em digressão é oferecer às pessoas a oportunidade de ouvirem estas músicas ao vivo e também a nossa forma de prestar homenagem ao Ian.
PP - Nos vossos espetáculos também tocam temas de “Closer” e alguns do tempo de “Warsaw”. Como é feita a escolha dos temas a tocar?
PH - Nós gostamos de tocar o alinhamento de forma cronológica – isso significa que vamos começar com o material mais antigo de “Warsaw” e depois tocamos o “Unkown Pleasures”, que representa grande parte do alinhamento. Depois de tocarmos o álbum completo, tocamos material de “Closer” e outras canções que são, de alguma forma, raridades. Gosto de mudar o alinhamento o mais possível, de forma a oferecer o maior conjunto de canções possível às pessoas, e também porque torna as nossas atuações mais «frescas» e entusiasmantes para mim e para o resto da banda. Já tocámos todas as canções dos Joy Division nos nossos concertos pelo mundo inteiro, o que representa um grande feito. Os rapazes da minha banda – Jack, Nat, Andy e o Paul – têm feito um trabalho notável e são todos muito empenhados.
PP - Quando está a tocar estas músicas com uma banda diferente, não sente que está a fazer um tributo a si mesmo?
PH - Por vezes, as pessoas criticam-me e dizem que estou numa banda de tributo a mim mesmo, mas eu não vejo as coisas assim. Fiz parte dos Joy Division e ajudei a criar e a escrever aquelas músicas, por isso penso que é normal tocar essas composições ao vivo. Mais: acho que o facto de tocar o álbum na íntegra significa que tudo isto é mais do que fazer um tributo. Se tocares apenas os maiores êxitos da banda todas as noites, como esta nova versão dos “New Order” tem feito, aí sim, corres o risco de parecer uma banda de tributo. Esta nova versão é um tributo sim - um tributo àquilo que os verdadeiros New Order foram.
PP - Como sente o panorama musical de Manchester hoje?
PH - Manchester produziu música fantástica ao longo dos anos... Talvez isso possa estar relacionado com a metereologia local. Chove muito e, por isso, as pessoas ficam em casa a fazer música (risos). Ainda existe música muito interessante em Manchester. Por exemplo, depois de tocarmos em Portugal, seguimos viagem para o Reino Unido e vamos atuar com duas novas bandas de Manchester: “The Shines” e Tiny Phillips”. São ambos projetos muito interessantes e, para mim, mostram que o futuro da música de Manchester está em boas mãos.
PP - Ainda consegue, hoje, escrever uma canção em duas horas, como fazia com os Joy Division?
PH - Os Joy Division eram muito prolíferos, pois a química entre os elementos da banda era absolutamente fantástica – sempre que ensaiávamos, nascia uma nova canção. Era um processo muito fácil. Quando fizemos os New Order, as coisas tornaram-se mais difíceis, pois alguns membros da banda insistiam em fazer pós-produção em todo o material, o que retirou algum gozo ao processo criativo… Pelo menos para mim. Isso fez com que cada disco fosse mais demorado a sair, além de que as relações entre nós, enquanto membros da banda, não eram as melhores. Enquanto Joy Division, a tecnologia não era óptima, então nós tínhamos realmente que nos sentar numa sala com os nossos instrumentos e tocar todos juntos para fazer a canção. Hoje em dia, temos tantos computadores e diferentes programas digitais que deixamos que as máquinas assumam o papel principal na criação, o que é uma pena.
PP - O que podem esperar os fãs de Joy Division do vosso espectáculo em Portugal, no âmbito do Misty Fest?
PH - Podem esperar ouvir o “Unknown Pleasures” completo, assim como muitas músicas do catálogo da banda – podem ter a certeza que todas as canções vão ser tocadas com muito respeito e fidelidade, uma vez que todos os membros da banda reconhecem o valor das músicas e respeitam a sua identidade e o que significam para os fãs. Estou ainda a decidir o alinhamento definitivo que vamos tocar em Portugal - é muito bom, pois as pessoas escrevem no nosso facebook o que gostariam de ouvir e eu dou bastante importância a isso. Até agora, temos pedidos para tocarmos o “Atmosphere” e o “Ceremony”, e vamos, decididamente, tocar essas duas. O resto vai ser surpresa! Tivemos um concerto fantástico no Porto em Fevereiro de 2011, na Casa da Música, e participámos no maravilhoso Festival Paredes de Coura em 2010. Em ambas as experiências, o público português foi do melhor que alguma vez já conhecemos e espero que no dia 8 de Novembro isso se repita. Estamos muito ansiosos por tocar para vocês.
In Palco Principal
terça-feira, 6 de novembro de 2012
The Walkmen
TMN ao Vivo
Pontapé na crise
Quando, há poucos dias, foi anunciada a mudança de sala do espetáculo dos The Walkmen em Lisboa, muitos entenderam que a causa de tal mudança poderia ter a ver com uma eventual menor procura dos bilhetes. Afinal, a crise não perdoa... Ainda que há cerca de dois anos tenha sido um Coliseu de Lisboa cheio a receber a banda de Nova Iorque aquando da sua digressão de apresentação de “Lisbon”, no domingo, o espaço TMN Ao Vivo chegou perfeitamente para as centenas que, nessa noite, se resguardaram do frio outonal.
Trazendo na bagagem o muito bem conseguido “Heaven”, Hamilton Leithauser e comparsas começam este muito animado concerto com “Line By Line”, algo que já vem sendo habitual nesta digressão e que destaca a (grande) competência do guitarrista Paul Maroon. Eram precisamente 22h00 e na sala ouviam-se os primeiros acordes indie de laivos pós-punk, características que se mantiveram por cerca de quase hora e meia. A proximidade entre público e artistas que esta sala proporciona revela-se sempre como um fator importante e alia ambas as partes. Se alguém esperou um concerto a meio-gás, enganou-se.
A segunda da noite foi “Love is Luck”, um tema que faz lembrar o universo dos Strokes, cuja vibração não deixou ninguém indiferente. “Heartbreaker” é outro exemplo da boa safra do disco editado em maio, com Leithauser a atirar-se a uma versão hipnótica, assumindo o papel de um cronner à beira do colapso. A reação do público foi bastante efusiva.
Ao longo da noite, os norte-americanos ofereceram um concerto muito estimulante e esgalhado, não deixando de fora alguns dos seus temas mais conhecidos. A primeira recordação calhou a “Blue as Your Blood”, de "Lisbon" (2010), com o palco tingido de azul nos momentos mais calmos da performance.
De visual straight e formal (Leithauser de blazer ao longo de todo o concerto contrastava com as camisas arregaçadas dos restantes membros da banda), os The Walkmen atacavam agora “Angela Surf City”, também de "Lisbon", ideal para bater o pé, sacudir a alma e encher os sentidos com um ritmo punky delicioso, com Nova Iorque sempre no pensamento, claro. O processo de regressão cronológica continuou e a próxima paragem trouxe à tona “On the Water”, de "You and Me" (2008). O muito excitante Matt Barrick na bateria fazia-se agora acompanhar de uma maraca e o ar respirava um ambiente perto do folk.
Estacionado em 2008, Leithauser atira-se a “In the New Year”, aquela que foi uma das prestações mais bem conseguidas da noite, com as teclas a dar um ambiente intenso. Apesar da voz falhar a espaços, a paixão resistiu, e os merecidos aplausos não se fizeram esperar.
Seguiu-se a muito Dyliana e serena “138 th Street”, de "Bow and Arrows" (2004), em registo acústico, com o público a respeitar o silêncio deste tema. Leithauser, muito pouco interventivo, elogiou a solenidade do público. Segundo o vocalista, por terras de Sua Majestade o público é mais efusivo durante a interpretação deste tema.
Sensivelmente a meia da atuação, os The Walkmen invertem o sentido cronológico e voam até 2008, aterrando em "You and Me". À beira do lamento, os versos de “Donde está La Playa” servem de preparação para o panfletário e esgalhado “All Hands in the Cook”, o único tema tocado de "A Hundred Miles Off" (2006). A performance mereceu muitos aplausos e alguém do público gritou a bravura com que a voz de Leithauser aguentou o tema. Seguiu-se a mais mexida e com ambiente por vezes ska “Woe is Me”, de "Lisbon".
“Juveniles”, outro dos maiores hinos da banda, e uma das músicas com alma mais radiofónica, é irresistível e coloca toda a gente a dançar, antecedendo a fabulosa “The Rat”, a música que define o que são os The Walkmen: fúria, paixão, lirismo e entrega. Uma das receitas para afastar qualquer crise que arrisque colocar-se à frente deste quinteto.
Depois da tempestade quase sónica, “Love is Luck” é tocada, e cantada, como um elogio à surf music. Sem dúvida que os The Walkmen de "Heaven" são uma banda mais madura, consciente e consistente. O pop sussurrado de “We Can’t Beat” é um exemplo disso mesmo. À voz de Leithauser junta-se outro registo vocal e regressa a toada mais intimista e acústica.
Antes do merecido encore, a banda despediu-se com a faixa homónima do mais recente trabalho, uma das canções mais orelhudas e clean dos The Walkmen. O público aproveitou a boleia da melodia da canção e entoou a mesma, em coro, até ao regressar da banda ao palco.
O regresso foi bastante saudado e os presentes tiveram o privilégio de ouvir ainda mais três temas. “I Lost You”, de "You and Me", fez ressaltar a importância da banda enquanto um todo, com a voz nasalada de Leithauser a remeter para o espetro musical dos anos 1970, e com as teclas a assumirem relevância acrescida. Com as luzes sumidas, já perto do fim, “Everyone Who Pretend to Like Me is Gone”, faixa-título do primeiro álbum da banda, inicia em crescendo, alicerçada em algum feedback e com Leithauser a cantar “I made the best of it”.
Cerca de hora e meia depois, o concerto encerra com o vocalista a apresentar a banda, que se despediu com “Another One Goes By”, de "A Hundred Miles Off", uma versão de Marc Manzarrin, músico que ganhou reputação como baterista e vocalista e que marcou a cena musical nova-iorquina nas décadas de 1970 e 1980.
Os The Walkmen de 2012 continuam tão, ou mais fortes, que em 2010 ou 2008, e todos os que que encheram o TMN Ao Vivo deram, por certo, bem empregue a noite. Desejamos que a banda regresse em breve com a mesma força e dedicação que exibiu no domingo, pois precisamos de espetáculos assim, que nos façam acreditar que ainda há esperança, com ou sem Coliseus…
Antes dos The Walkmen, o palco foi de Rui Carvalho, aka Filho da Mãe, um dos mais talentosos guitarristas da nova geração de músicos portugueses. Com a sala já muito bem composta, Filho da Mãe, apoiado na sua guitarra, pedais e imenso talento, tocou um punhado de excelentes canções, que são, acima de tudo, paisagens sonoras.
De olhos fechados e num universo só seu, este trovador revela-se egoísta, toca para si mesmo, mas liberta uma magia tão grande que as suas composições nos levam para fora de órbita, num planeta distante, mas, simultaneamente, tão perto de nós. Obrigatório para quem gosta do melhor que as cordas de uma “simples” guitarra podem oferecer.
In Palco Principal
Quando, há poucos dias, foi anunciada a mudança de sala do espetáculo dos The Walkmen em Lisboa, muitos entenderam que a causa de tal mudança poderia ter a ver com uma eventual menor procura dos bilhetes. Afinal, a crise não perdoa... Ainda que há cerca de dois anos tenha sido um Coliseu de Lisboa cheio a receber a banda de Nova Iorque aquando da sua digressão de apresentação de “Lisbon”, no domingo, o espaço TMN Ao Vivo chegou perfeitamente para as centenas que, nessa noite, se resguardaram do frio outonal.
Trazendo na bagagem o muito bem conseguido “Heaven”, Hamilton Leithauser e comparsas começam este muito animado concerto com “Line By Line”, algo que já vem sendo habitual nesta digressão e que destaca a (grande) competência do guitarrista Paul Maroon. Eram precisamente 22h00 e na sala ouviam-se os primeiros acordes indie de laivos pós-punk, características que se mantiveram por cerca de quase hora e meia. A proximidade entre público e artistas que esta sala proporciona revela-se sempre como um fator importante e alia ambas as partes. Se alguém esperou um concerto a meio-gás, enganou-se.
A segunda da noite foi “Love is Luck”, um tema que faz lembrar o universo dos Strokes, cuja vibração não deixou ninguém indiferente. “Heartbreaker” é outro exemplo da boa safra do disco editado em maio, com Leithauser a atirar-se a uma versão hipnótica, assumindo o papel de um cronner à beira do colapso. A reação do público foi bastante efusiva.
Ao longo da noite, os norte-americanos ofereceram um concerto muito estimulante e esgalhado, não deixando de fora alguns dos seus temas mais conhecidos. A primeira recordação calhou a “Blue as Your Blood”, de "Lisbon" (2010), com o palco tingido de azul nos momentos mais calmos da performance.
De visual straight e formal (Leithauser de blazer ao longo de todo o concerto contrastava com as camisas arregaçadas dos restantes membros da banda), os The Walkmen atacavam agora “Angela Surf City”, também de "Lisbon", ideal para bater o pé, sacudir a alma e encher os sentidos com um ritmo punky delicioso, com Nova Iorque sempre no pensamento, claro. O processo de regressão cronológica continuou e a próxima paragem trouxe à tona “On the Water”, de "You and Me" (2008). O muito excitante Matt Barrick na bateria fazia-se agora acompanhar de uma maraca e o ar respirava um ambiente perto do folk.
Estacionado em 2008, Leithauser atira-se a “In the New Year”, aquela que foi uma das prestações mais bem conseguidas da noite, com as teclas a dar um ambiente intenso. Apesar da voz falhar a espaços, a paixão resistiu, e os merecidos aplausos não se fizeram esperar.
Seguiu-se a muito Dyliana e serena “138 th Street”, de "Bow and Arrows" (2004), em registo acústico, com o público a respeitar o silêncio deste tema. Leithauser, muito pouco interventivo, elogiou a solenidade do público. Segundo o vocalista, por terras de Sua Majestade o público é mais efusivo durante a interpretação deste tema.
Sensivelmente a meia da atuação, os The Walkmen invertem o sentido cronológico e voam até 2008, aterrando em "You and Me". À beira do lamento, os versos de “Donde está La Playa” servem de preparação para o panfletário e esgalhado “All Hands in the Cook”, o único tema tocado de "A Hundred Miles Off" (2006). A performance mereceu muitos aplausos e alguém do público gritou a bravura com que a voz de Leithauser aguentou o tema. Seguiu-se a mais mexida e com ambiente por vezes ska “Woe is Me”, de "Lisbon".
“Juveniles”, outro dos maiores hinos da banda, e uma das músicas com alma mais radiofónica, é irresistível e coloca toda a gente a dançar, antecedendo a fabulosa “The Rat”, a música que define o que são os The Walkmen: fúria, paixão, lirismo e entrega. Uma das receitas para afastar qualquer crise que arrisque colocar-se à frente deste quinteto.
Depois da tempestade quase sónica, “Love is Luck” é tocada, e cantada, como um elogio à surf music. Sem dúvida que os The Walkmen de "Heaven" são uma banda mais madura, consciente e consistente. O pop sussurrado de “We Can’t Beat” é um exemplo disso mesmo. À voz de Leithauser junta-se outro registo vocal e regressa a toada mais intimista e acústica.
Antes do merecido encore, a banda despediu-se com a faixa homónima do mais recente trabalho, uma das canções mais orelhudas e clean dos The Walkmen. O público aproveitou a boleia da melodia da canção e entoou a mesma, em coro, até ao regressar da banda ao palco.
O regresso foi bastante saudado e os presentes tiveram o privilégio de ouvir ainda mais três temas. “I Lost You”, de "You and Me", fez ressaltar a importância da banda enquanto um todo, com a voz nasalada de Leithauser a remeter para o espetro musical dos anos 1970, e com as teclas a assumirem relevância acrescida. Com as luzes sumidas, já perto do fim, “Everyone Who Pretend to Like Me is Gone”, faixa-título do primeiro álbum da banda, inicia em crescendo, alicerçada em algum feedback e com Leithauser a cantar “I made the best of it”.
Cerca de hora e meia depois, o concerto encerra com o vocalista a apresentar a banda, que se despediu com “Another One Goes By”, de "A Hundred Miles Off", uma versão de Marc Manzarrin, músico que ganhou reputação como baterista e vocalista e que marcou a cena musical nova-iorquina nas décadas de 1970 e 1980.
Os The Walkmen de 2012 continuam tão, ou mais fortes, que em 2010 ou 2008, e todos os que que encheram o TMN Ao Vivo deram, por certo, bem empregue a noite. Desejamos que a banda regresse em breve com a mesma força e dedicação que exibiu no domingo, pois precisamos de espetáculos assim, que nos façam acreditar que ainda há esperança, com ou sem Coliseus…
Antes dos The Walkmen, o palco foi de Rui Carvalho, aka Filho da Mãe, um dos mais talentosos guitarristas da nova geração de músicos portugueses. Com a sala já muito bem composta, Filho da Mãe, apoiado na sua guitarra, pedais e imenso talento, tocou um punhado de excelentes canções, que são, acima de tudo, paisagens sonoras.
De olhos fechados e num universo só seu, este trovador revela-se egoísta, toca para si mesmo, mas liberta uma magia tão grande que as suas composições nos levam para fora de órbita, num planeta distante, mas, simultaneamente, tão perto de nós. Obrigatório para quem gosta do melhor que as cordas de uma “simples” guitarra podem oferecer.
In Palco Principal
sexta-feira, 2 de novembro de 2012
Cowboy Junkies em entrevista
"Continuamos a desafiar-nos a nível criativo e ainda temos muito gosto em fazê-lo"
Naturais do Canadá, os Cowboy Junkies saltaram para as bocas do mundo da música em 1988, aquando do lançamento do aclamado "The Trinity Session", gravado, sem rede, na Igreja da Santa Trindade, em Toronto. Desde então, os quatro canadianos espalharam pelo mundo o seu folk indie muito blusy, alicerçado na fantástica voz de Margo Timmins. Até hoje, lançaram mais duas dezenas de álbuns, sendo que a sua última e ambiciosa aventura, “The Nomad Series”, é um conjunto de quatro discos, cujo último tomo, “The Wildreness”, foi lançado este ano. E é assim, na ressaca desta viagem nómada, que o clã Timmins e Alan Anton se apresenta no Misty Fest, no CCB, em Lisboa, dia 17 de novembro, e na Casa da Música, na Invicta, a 19. Antes das apresentações em Portugal, a conversa com o Palco Principal.
Palco Principal – Já passaram mais de duas décadas desde o lançamento de “The Trinity Session”, segundo e muito aclamado disco de estúdio dos Cowboy Junkies, sucessor do longa-duração de estreia da banda, “Whites Off Earth Now!!”. Sentem-se realizados com o vosso percurso?
Cowboy Junkies - O percurso continua, continuamos a desafiar-nos a nós próprios a nível criativo e ainda temos muito gozo em fazê-lo.
PP - Já muitas vezes comentaram que o sucesso da vossa segunda incursão em estúdio vos apanhou um pouco desprevenidos. Como lidam hoje com o sucesso?
CJ - Na nossa perspetiva, ter sucesso é ter a capacidade de fazer música que nos faça sentir realizados e que faça as pessoas sentirem prazer em ouvir. Isso tem-nos permitido continuar a trabalhar e a tocar, o que, para um músico, é o melhor que se pode esperar.
PP – Aquando dos primeiros palcos pisados, afirmavam que as atuações ao vivo mudavam a alma das próprias canções. Hoje, mais experientes, ainda sentem essa metamorfose?
CJ – As canções são sempre influenciadas pelo ambiente que vivemos diariamente na estrada enquanto grupo, por isso é natural que mudem um pouco consoante o nosso estado de espírito. Mesmo após anos de experiência.
PP - No início dos anos 90, especialmente com “Black Eyed Man”, os Cowboy Junkies adotaram uma postura um pouco mais rock. Foi essa uma mudança planeada ou algo que aconteceu naturalmente?
CJ - Nessa época, sentimos vontade de expandir a nossa musicalidade, o que resultou num conjunto de canções que tinham mais energia que a imposta nos trabalhos anteriores. Ainda assim, não gostamos de nos afastar do “nosso som”, gostamos demasiado dele, por isso poderemos sempre ouvir os Junkies, independentemente da direção pela qual enveredemos.
PP - Sempre gostaram de fazer versões. Em “The Trinity Session” e “Early 21 st Century Blues” prestaram homenagem a Presley, Springsteen, Dylan e Lennon. Enquanto banda, são esses os vossos maiores heróis?
CJ – Sim, são todos estes nomes, e ainda Neil Young, Lou Reed, Nick Cave, etc..
PP – Editaram recentemente “The Wildreness”, último disco de “The Nomad Series” - um projeto que teve uma viagem à China como mote e que envolveu a edição de quatro discos em apenas 18 meses. Algumas das canções incluídas nestes quatro trabalhos foram escritas há bastantes anos. Nunca recearam que este projeto pudesse soar vintage ou era esse mesmo o seu objetivo?
CJ - Quanto começámos a gravar esta série de álbuns, não tínhamos uma ideia clara do caminho a seguir – apenas alguns conceitos base que acabaram por ficar patentes nos quatro discos. Sabíamos, porém, que, para conseguirmos incorporar as ideias que estávamos a tentar introduzir, iria ser necessária uma expansão do nosso som. Cada um dos discos acabou por adquirir uma personalidade própria, o que, tendo em conta o espaço de tempo que levámos a gravar (18 meses), acabou por ser uma agradável surpresa. A ideia deste conceito foi desafiar-nos a sair da nossa rotina habitual de gravar um disco a cada 12 meses e ir em digressão. E o facto de termos muitas canções novas ajudou e acelerou o processo.
PP – Como complemento a estes quatro discos, vai ser lançado um livro do pintor cubano Enrique Martinez Celaya, um amigo de longa data da banda. Associam muito a vossa música à pintura. Cada canção é um quadro?
CJ - A música e as artes visuais funcionam em espaços temporais diferentes, o que marca a diferença e influencia a peça enquanto produto final, mas há certamente pontos de contacto no processo criativo...
PP - Em “The Wildreness” saltam à vista canções muito diferentes entre si, como “Fairytale” e “Fuck, I Hate the Cold”. Apesar dessas disparidades, todo o disco é bastante emotivo. Como se sentem hoje enquanto banda?
CJ - Com a idade, surgem também novos patamares emocionais a explorar, e com isso sentimos outro tipo de motivação criativa. “The Wildreness” explora esses novos sentimentos e paisagens, e tenta dar-lhes algum sentido.
PP - A primeira vez que pisaram palcos portugueses foi aquando da digressão de apresentação “Open”. Mais de uma década depois, o que podem os fãs portugueses esperar dos concertos dos Cowboy Junkies em território nacional?
CJ - Muitas canções novas incluídas no “Nomad Series”, assim como alguns temas mais antigos.
In Palco Principal
Naturais do Canadá, os Cowboy Junkies saltaram para as bocas do mundo da música em 1988, aquando do lançamento do aclamado "The Trinity Session", gravado, sem rede, na Igreja da Santa Trindade, em Toronto. Desde então, os quatro canadianos espalharam pelo mundo o seu folk indie muito blusy, alicerçado na fantástica voz de Margo Timmins. Até hoje, lançaram mais duas dezenas de álbuns, sendo que a sua última e ambiciosa aventura, “The Nomad Series”, é um conjunto de quatro discos, cujo último tomo, “The Wildreness”, foi lançado este ano. E é assim, na ressaca desta viagem nómada, que o clã Timmins e Alan Anton se apresenta no Misty Fest, no CCB, em Lisboa, dia 17 de novembro, e na Casa da Música, na Invicta, a 19. Antes das apresentações em Portugal, a conversa com o Palco Principal.
Palco Principal – Já passaram mais de duas décadas desde o lançamento de “The Trinity Session”, segundo e muito aclamado disco de estúdio dos Cowboy Junkies, sucessor do longa-duração de estreia da banda, “Whites Off Earth Now!!”. Sentem-se realizados com o vosso percurso?
Cowboy Junkies - O percurso continua, continuamos a desafiar-nos a nós próprios a nível criativo e ainda temos muito gozo em fazê-lo.
PP - Já muitas vezes comentaram que o sucesso da vossa segunda incursão em estúdio vos apanhou um pouco desprevenidos. Como lidam hoje com o sucesso?
CJ - Na nossa perspetiva, ter sucesso é ter a capacidade de fazer música que nos faça sentir realizados e que faça as pessoas sentirem prazer em ouvir. Isso tem-nos permitido continuar a trabalhar e a tocar, o que, para um músico, é o melhor que se pode esperar.
PP – Aquando dos primeiros palcos pisados, afirmavam que as atuações ao vivo mudavam a alma das próprias canções. Hoje, mais experientes, ainda sentem essa metamorfose?
CJ – As canções são sempre influenciadas pelo ambiente que vivemos diariamente na estrada enquanto grupo, por isso é natural que mudem um pouco consoante o nosso estado de espírito. Mesmo após anos de experiência.
PP - No início dos anos 90, especialmente com “Black Eyed Man”, os Cowboy Junkies adotaram uma postura um pouco mais rock. Foi essa uma mudança planeada ou algo que aconteceu naturalmente?
CJ - Nessa época, sentimos vontade de expandir a nossa musicalidade, o que resultou num conjunto de canções que tinham mais energia que a imposta nos trabalhos anteriores. Ainda assim, não gostamos de nos afastar do “nosso som”, gostamos demasiado dele, por isso poderemos sempre ouvir os Junkies, independentemente da direção pela qual enveredemos.
PP - Sempre gostaram de fazer versões. Em “The Trinity Session” e “Early 21 st Century Blues” prestaram homenagem a Presley, Springsteen, Dylan e Lennon. Enquanto banda, são esses os vossos maiores heróis?
CJ – Sim, são todos estes nomes, e ainda Neil Young, Lou Reed, Nick Cave, etc..
PP – Editaram recentemente “The Wildreness”, último disco de “The Nomad Series” - um projeto que teve uma viagem à China como mote e que envolveu a edição de quatro discos em apenas 18 meses. Algumas das canções incluídas nestes quatro trabalhos foram escritas há bastantes anos. Nunca recearam que este projeto pudesse soar vintage ou era esse mesmo o seu objetivo?
CJ - Quanto começámos a gravar esta série de álbuns, não tínhamos uma ideia clara do caminho a seguir – apenas alguns conceitos base que acabaram por ficar patentes nos quatro discos. Sabíamos, porém, que, para conseguirmos incorporar as ideias que estávamos a tentar introduzir, iria ser necessária uma expansão do nosso som. Cada um dos discos acabou por adquirir uma personalidade própria, o que, tendo em conta o espaço de tempo que levámos a gravar (18 meses), acabou por ser uma agradável surpresa. A ideia deste conceito foi desafiar-nos a sair da nossa rotina habitual de gravar um disco a cada 12 meses e ir em digressão. E o facto de termos muitas canções novas ajudou e acelerou o processo.
PP – Como complemento a estes quatro discos, vai ser lançado um livro do pintor cubano Enrique Martinez Celaya, um amigo de longa data da banda. Associam muito a vossa música à pintura. Cada canção é um quadro?
CJ - A música e as artes visuais funcionam em espaços temporais diferentes, o que marca a diferença e influencia a peça enquanto produto final, mas há certamente pontos de contacto no processo criativo...
PP - Em “The Wildreness” saltam à vista canções muito diferentes entre si, como “Fairytale” e “Fuck, I Hate the Cold”. Apesar dessas disparidades, todo o disco é bastante emotivo. Como se sentem hoje enquanto banda?
CJ - Com a idade, surgem também novos patamares emocionais a explorar, e com isso sentimos outro tipo de motivação criativa. “The Wildreness” explora esses novos sentimentos e paisagens, e tenta dar-lhes algum sentido.
PP - A primeira vez que pisaram palcos portugueses foi aquando da digressão de apresentação “Open”. Mais de uma década depois, o que podem os fãs portugueses esperar dos concertos dos Cowboy Junkies em território nacional?
CJ - Muitas canções novas incluídas no “Nomad Series”, assim como alguns temas mais antigos.
In Palco Principal
segunda-feira, 3 de setembro de 2012
Bush
Coliseu dos Recreios
A química (ainda) existe
Formados em 1992, nos tempos áureos do grunge, os londrinos Bush, liderados por Gavin Rossdale, voltaram aos palcos nacionais, para gáudio dos muitos fãs da banda. Com o Coliseu dos Recreios praticamente cheio, esperava-se uma noite repleta de emoções fortes e os Bush souberam dar uma boa resposta a essas expetativas.
Passavam poucos minutos das 21h45 quando Rossdale e seus pares entraram em palco. O muito calor que se vivia dentro e fora da sala apenas foi superado pela temperatura dos decibéis à solta pelo Coliseu. Com dois novos elementos - Chris Traynor na guitarra e Corey Britz no baixo -, os Bush abriram, de forma decidida, um concerto muito consistente com um dos seus maiores hinos, Machinehead, de “Sixteen Stone”, álbum de estreia datado de 1994. O jogo de luzes disparava sobre a plateia eufórica, e o rock pujante e orelhudo dos Bush tratou do resto. Bastante comunicativo, Rossdale arriscou algumas frases em “português”, cumprimentando a sala com um “Buena noite, Lisboa!”.
Do passado para o presente, a segunda música da noite, All My Life, do mais recente disco dos londrinos, “The Sea of Memories”, que interrompeu um hiato de cerca de uma década no que toca à edição de discos por parte da banda, revelou-nos uns Bush em grande forma. Os duelos de guitarras, bem secundados pelo baixo e bateria, mostravam a coesão da banda. Seguiu-se a primeira grande explosão da noite com o clássico The Chemical Between Us, de “The Science of Things”, de 1999. A letra foi cantada em uníssono. Rossdale, rendido no final da música, deixou escapar um “…so beautiful...”. Sem perder a (muita) energia, The Sound of Winter, outra das músicas de “The Sea of Memories”, não se fez esperar, acompanhada por palmas a compasso. O entusiasmo crescia e o vocalista entra na onda e mergulha no público, aproveitando um dos muitos inspirados solos de Traynor.
De novo em palco, Rossdale anuncia, “uma canção nova” e Everything Zen, logo aos primeiros acordes, torna o ambiente saturado do Coliseu ainda mais tenso. A entrega dos músicos é total e o entusiasmado líder da banda leva-o a ensaiar uma dança sensual com a sua guitarra, que não resiste até ao final da performance. Chega agora a vez de Swallowed, do disco “Razorblade Suitcase”. Todos na sala, sem exceção, entoam a letra em coro. The Heart of the Matter, um diálogo bem construído entre guitarras e baixo/bateria, é gritada em plenos pulmões, e antecede Prizefighter, esta última com dedicatória especial…a Cristiano Ronaldo. A recuperar das emoções fortes do início do concerto, o público acompanha o estado mais morno da atuação do quarteto britânico que brinda ainda os presentes com Stand Up.
De forma muito segura, Rossdale e companhia agarram de novo o público com Greedy Fly, uma das mais interessantes e convincentes composições da banda. Visivelmente agradado com a atuação e com os presentes, o vocalista deixa o palco e mistura-se na multidão. Os Bush jogam, definitivamente, “em casa”. Alien, a introspetiva faixa de “Sixteen Stone”, faz brilhar o baixo de Britz e os Bush arrancam para uma das melhores prestações da noite. Desarmado da sua guitarra, Rossdale deixa o palco e, de microfone em riste, corre pela audiência. Para no meio das pessoas, canta com elas, deixa-se fotografar, percorre o Coliseu de uma ponta à outra, bebe com os presentes, abraça as gentes. A química é total entre banda e público, a comunhão existe, resiste. O pretexto de tudo isto é The Afterlife.
Os Bush estão vivos e recomendam-se. Little Things faz com que vocalista e baterista partilhem o instrumento mais pesado da banda, e Rossdale, de baqueta na mão, ataca a bateria de Robin Goodride, o outro membro fundador do grupo. No final da música, são cerca de 23h00 e os Bush recolhem aos bastidores.
Poucos minutos depois, surgem em palco de novo os quatro magníficos e o encore começa com dois tributos a duas das maiores bandas britânicas da história. A primeira homenagem surge através de uma excelente versão de Breathe, dos Pink Floyd. Traynor brilha na guitarra e arranca um solo que não desdenharia a Sir David Gilmour. Segue-se Come Togheter, dos Fab Four de Liverpool, e o diabo está à solta no Coliseu. “Come Togheter, Right Now, Over Me”, cantava-se na sala.
Até ao final da suada e dedicada prestação da banda ainda se ouviu Glycerine e Comedown, ambas do álbum debutante da banda. A primeira começou com Gavin Rossdale sozinho em palco, tendo como única companhia a guitarra, cantando os versos deste que é um dos maiores êxitos da banda, por vezes a capela, para depois ser acompanhado pelos restantes elementos da banda. Já em jeito de despedida, Comedown, em versão longa, serviu para ter a certeza que se assistiu a um concerto que, certamente, vai permanecer na alma dos presentes durante muito tempo.
In Palco Principal
Formados em 1992, nos tempos áureos do grunge, os londrinos Bush, liderados por Gavin Rossdale, voltaram aos palcos nacionais, para gáudio dos muitos fãs da banda. Com o Coliseu dos Recreios praticamente cheio, esperava-se uma noite repleta de emoções fortes e os Bush souberam dar uma boa resposta a essas expetativas.
Passavam poucos minutos das 21h45 quando Rossdale e seus pares entraram em palco. O muito calor que se vivia dentro e fora da sala apenas foi superado pela temperatura dos decibéis à solta pelo Coliseu. Com dois novos elementos - Chris Traynor na guitarra e Corey Britz no baixo -, os Bush abriram, de forma decidida, um concerto muito consistente com um dos seus maiores hinos, Machinehead, de “Sixteen Stone”, álbum de estreia datado de 1994. O jogo de luzes disparava sobre a plateia eufórica, e o rock pujante e orelhudo dos Bush tratou do resto. Bastante comunicativo, Rossdale arriscou algumas frases em “português”, cumprimentando a sala com um “Buena noite, Lisboa!”.
Do passado para o presente, a segunda música da noite, All My Life, do mais recente disco dos londrinos, “The Sea of Memories”, que interrompeu um hiato de cerca de uma década no que toca à edição de discos por parte da banda, revelou-nos uns Bush em grande forma. Os duelos de guitarras, bem secundados pelo baixo e bateria, mostravam a coesão da banda. Seguiu-se a primeira grande explosão da noite com o clássico The Chemical Between Us, de “The Science of Things”, de 1999. A letra foi cantada em uníssono. Rossdale, rendido no final da música, deixou escapar um “…so beautiful...”. Sem perder a (muita) energia, The Sound of Winter, outra das músicas de “The Sea of Memories”, não se fez esperar, acompanhada por palmas a compasso. O entusiasmo crescia e o vocalista entra na onda e mergulha no público, aproveitando um dos muitos inspirados solos de Traynor.
De novo em palco, Rossdale anuncia, “uma canção nova” e Everything Zen, logo aos primeiros acordes, torna o ambiente saturado do Coliseu ainda mais tenso. A entrega dos músicos é total e o entusiasmado líder da banda leva-o a ensaiar uma dança sensual com a sua guitarra, que não resiste até ao final da performance. Chega agora a vez de Swallowed, do disco “Razorblade Suitcase”. Todos na sala, sem exceção, entoam a letra em coro. The Heart of the Matter, um diálogo bem construído entre guitarras e baixo/bateria, é gritada em plenos pulmões, e antecede Prizefighter, esta última com dedicatória especial…a Cristiano Ronaldo. A recuperar das emoções fortes do início do concerto, o público acompanha o estado mais morno da atuação do quarteto britânico que brinda ainda os presentes com Stand Up.
De forma muito segura, Rossdale e companhia agarram de novo o público com Greedy Fly, uma das mais interessantes e convincentes composições da banda. Visivelmente agradado com a atuação e com os presentes, o vocalista deixa o palco e mistura-se na multidão. Os Bush jogam, definitivamente, “em casa”. Alien, a introspetiva faixa de “Sixteen Stone”, faz brilhar o baixo de Britz e os Bush arrancam para uma das melhores prestações da noite. Desarmado da sua guitarra, Rossdale deixa o palco e, de microfone em riste, corre pela audiência. Para no meio das pessoas, canta com elas, deixa-se fotografar, percorre o Coliseu de uma ponta à outra, bebe com os presentes, abraça as gentes. A química é total entre banda e público, a comunhão existe, resiste. O pretexto de tudo isto é The Afterlife.
Os Bush estão vivos e recomendam-se. Little Things faz com que vocalista e baterista partilhem o instrumento mais pesado da banda, e Rossdale, de baqueta na mão, ataca a bateria de Robin Goodride, o outro membro fundador do grupo. No final da música, são cerca de 23h00 e os Bush recolhem aos bastidores.
Poucos minutos depois, surgem em palco de novo os quatro magníficos e o encore começa com dois tributos a duas das maiores bandas britânicas da história. A primeira homenagem surge através de uma excelente versão de Breathe, dos Pink Floyd. Traynor brilha na guitarra e arranca um solo que não desdenharia a Sir David Gilmour. Segue-se Come Togheter, dos Fab Four de Liverpool, e o diabo está à solta no Coliseu. “Come Togheter, Right Now, Over Me”, cantava-se na sala.
Até ao final da suada e dedicada prestação da banda ainda se ouviu Glycerine e Comedown, ambas do álbum debutante da banda. A primeira começou com Gavin Rossdale sozinho em palco, tendo como única companhia a guitarra, cantando os versos deste que é um dos maiores êxitos da banda, por vezes a capela, para depois ser acompanhado pelos restantes elementos da banda. Já em jeito de despedida, Comedown, em versão longa, serviu para ter a certeza que se assistiu a um concerto que, certamente, vai permanecer na alma dos presentes durante muito tempo.
In Palco Principal
segunda-feira, 30 de julho de 2012
Mariza
Cascais Music Festival
Com a Mouraria na Alma
Passavam 14 minutos das 22 horas quando, pelo lado esquerdo do palco, Mariza - a nossa Mariza - entra em palco. Trajando de rojo, visual «moicano» e elegante, e altiva como só ela consegue ser, saúda o muito bem recheado Hipódromo António Manuel Possolo com Boa Noite Solidão, uma das mais marcantes músicas do seu mais recente trabalho, “Fado Tradicional”. Acompanhada na guitarra portuguesa por José Manuel Neto, na guitarra acústica por Diogo Clemente (também produtor de “Fado Tradicional”) e no baixo por Marino de Freitas, Mariza continua com Fado Vianinha. Depois, devagar, devagarinho, chega a lindíssima A Menina dos Meus Olhos, outra das pérolas do já referido trabalho de 2010.
Confiante, notoriamente feliz e - por que não dizê-lo - mais bonita, Mariza presta a sua primeira homenagem da noite, recaindo a honra no malogrado Max, e faz soar Já me Deixou. A saudade, essa, andou com todos os privilegiados que assistiram a mais uma excelente prestação da fadista, que agora abraça as raízes africanas que lhe correm no sangue em “Beijo de Saudade”, com cheirinho a Cabo Verde, mas, infelizmente, sem Tito Paris. Nesta altura, para além das habituais cordas, é a vez da bateria de Vicky Marques brilhar e dar um toque mais groove ao espetáculo. O casamento entre guitarras, baixo e bateria é perfeito e deste feliz enlace resulta um momento excelente.
Segue-se “Barco Negro” e, pela primeira vez, Mariza pede a interação do público. À vez, vozes masculinas e femininas, ainda que tímidas ao início, acompanham a fadista que reclama um “bocadinho mais” das gargantas dos presentes. Rendido, o público vê-se agora assaltado com mais um exemplo do fado com cunho pessoal e Meu Fado Meu, bastante aplaudido, relembra o álbum “Transparente”. No final do tema, a voz dá espaço à música e, aproveitando a deixa, Mariza entrega o palco aos músicos que, entre guitarras e baixo, oferecem um instrumental muito saudado.
De regresso ao palco, Chuva, um dos temas que mais palmas arrancou, faz-nos recuar até ao seu primeiro registo, “Fado em Mim”, e foi cantado com Mariza sentada entre guitarras. D. Rosa, poema de Fernando Pessoa, é mais um exemplo de “Fado Tradicional” e antecede a lindíssima Alfama, do álbum “Terra”. Segue-se Rosa da Madragoa e sente-se um cheirinho ao bairrismo da Lisboa capital. Num palco que é seu por mérito e justiça, Mariza aproveita a ocasião e cumprimenta e agradece a presença de todos, mas é, acima de tudo, o público que agradece a quem, cada vez mais, é o expoente do sentimento português de cantar.
Seguem-se Mais Uma Lua e Primavera, esta última um dos amores confessos da fadista, e o público responde com uma das maiores ovações da noite. Aos primeiros acordes de Rosa Branca todos batem palmas, Mariza dança, swinga, a festa prossegue e, mais uma vez, a audiência, agora já menos tímida, é posta à prova. É em clima festivo que chega Feira de Castro, única incursão da noite a “Fado Curvo”, que ganha outra cor com um solo de bateria de fazer inveja a muitos concertos de rock. Com Promete, Jura são muitas as mãos que se unem, são muitas as vozes que cantam a paixão.
A fama que, merecidamente, Mariza conseguiu não só em solo nacional faz-se notar com a presença de muitos estrangeiros na plateia e não é de estranhar que do palco se agradeça o carinho em inglês. Aproveitando o espírito, o público é presenteado com duas versões fantásticas, uma em português com açúcar (Fascinação, de Elis Regina), a outra em castelhano (Te Extraño, do mexicano Armando Manzareno Caché).
Já com quase hora e meia de emoções fortes, soam os primeiros acordes do clássico Ó Gente da Minha Terra, da rainha Amália, e Mariza deixa o palco, sai do «pedestal», e caminha por entre o público, cara a cara, e encanta, sorri, irradia felicidade. Distribui beijos, agradece a presença, está feliz. O público também.
O regresso ao palco, habitat cada vez mais natural desta moçambicana alfacinha que em tempos se definiu como “cantadeira de fados”, dá-se com nova incursão a Rosa Branca, agora com uma roupagem ainda mais festiva que consegue arrancar todos das cadeiras. E à meia-noite certinha, qual conto de fadas, a magia termina no palco mas vai, certamente, perdurar nas almas das gentes que se deslocaram a Cascais na noite de ontem para assistir ao último concerto do Cascais Music Festival deste ano. Obrigado Mariza e até à próxima.
In Palco Principal
Passavam 14 minutos das 22 horas quando, pelo lado esquerdo do palco, Mariza - a nossa Mariza - entra em palco. Trajando de rojo, visual «moicano» e elegante, e altiva como só ela consegue ser, saúda o muito bem recheado Hipódromo António Manuel Possolo com Boa Noite Solidão, uma das mais marcantes músicas do seu mais recente trabalho, “Fado Tradicional”. Acompanhada na guitarra portuguesa por José Manuel Neto, na guitarra acústica por Diogo Clemente (também produtor de “Fado Tradicional”) e no baixo por Marino de Freitas, Mariza continua com Fado Vianinha. Depois, devagar, devagarinho, chega a lindíssima A Menina dos Meus Olhos, outra das pérolas do já referido trabalho de 2010.
Confiante, notoriamente feliz e - por que não dizê-lo - mais bonita, Mariza presta a sua primeira homenagem da noite, recaindo a honra no malogrado Max, e faz soar Já me Deixou. A saudade, essa, andou com todos os privilegiados que assistiram a mais uma excelente prestação da fadista, que agora abraça as raízes africanas que lhe correm no sangue em “Beijo de Saudade”, com cheirinho a Cabo Verde, mas, infelizmente, sem Tito Paris. Nesta altura, para além das habituais cordas, é a vez da bateria de Vicky Marques brilhar e dar um toque mais groove ao espetáculo. O casamento entre guitarras, baixo e bateria é perfeito e deste feliz enlace resulta um momento excelente.
Segue-se “Barco Negro” e, pela primeira vez, Mariza pede a interação do público. À vez, vozes masculinas e femininas, ainda que tímidas ao início, acompanham a fadista que reclama um “bocadinho mais” das gargantas dos presentes. Rendido, o público vê-se agora assaltado com mais um exemplo do fado com cunho pessoal e Meu Fado Meu, bastante aplaudido, relembra o álbum “Transparente”. No final do tema, a voz dá espaço à música e, aproveitando a deixa, Mariza entrega o palco aos músicos que, entre guitarras e baixo, oferecem um instrumental muito saudado.
De regresso ao palco, Chuva, um dos temas que mais palmas arrancou, faz-nos recuar até ao seu primeiro registo, “Fado em Mim”, e foi cantado com Mariza sentada entre guitarras. D. Rosa, poema de Fernando Pessoa, é mais um exemplo de “Fado Tradicional” e antecede a lindíssima Alfama, do álbum “Terra”. Segue-se Rosa da Madragoa e sente-se um cheirinho ao bairrismo da Lisboa capital. Num palco que é seu por mérito e justiça, Mariza aproveita a ocasião e cumprimenta e agradece a presença de todos, mas é, acima de tudo, o público que agradece a quem, cada vez mais, é o expoente do sentimento português de cantar.
Seguem-se Mais Uma Lua e Primavera, esta última um dos amores confessos da fadista, e o público responde com uma das maiores ovações da noite. Aos primeiros acordes de Rosa Branca todos batem palmas, Mariza dança, swinga, a festa prossegue e, mais uma vez, a audiência, agora já menos tímida, é posta à prova. É em clima festivo que chega Feira de Castro, única incursão da noite a “Fado Curvo”, que ganha outra cor com um solo de bateria de fazer inveja a muitos concertos de rock. Com Promete, Jura são muitas as mãos que se unem, são muitas as vozes que cantam a paixão.
A fama que, merecidamente, Mariza conseguiu não só em solo nacional faz-se notar com a presença de muitos estrangeiros na plateia e não é de estranhar que do palco se agradeça o carinho em inglês. Aproveitando o espírito, o público é presenteado com duas versões fantásticas, uma em português com açúcar (Fascinação, de Elis Regina), a outra em castelhano (Te Extraño, do mexicano Armando Manzareno Caché).
Já com quase hora e meia de emoções fortes, soam os primeiros acordes do clássico Ó Gente da Minha Terra, da rainha Amália, e Mariza deixa o palco, sai do «pedestal», e caminha por entre o público, cara a cara, e encanta, sorri, irradia felicidade. Distribui beijos, agradece a presença, está feliz. O público também.
O regresso ao palco, habitat cada vez mais natural desta moçambicana alfacinha que em tempos se definiu como “cantadeira de fados”, dá-se com nova incursão a Rosa Branca, agora com uma roupagem ainda mais festiva que consegue arrancar todos das cadeiras. E à meia-noite certinha, qual conto de fadas, a magia termina no palco mas vai, certamente, perdurar nas almas das gentes que se deslocaram a Cascais na noite de ontem para assistir ao último concerto do Cascais Music Festival deste ano. Obrigado Mariza e até à próxima.
In Palco Principal
Subscrever:
Mensagens (Atom)